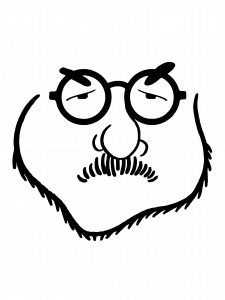Crítica Cultural,
A solidão de Carolina
Uma velha edição de 'O Cruzeiro' flagra o racismo estrutural em um festival literário — e a polêmica entre Carolina Maria de Jesus e Jorge Amado
01ago2019 | Edição #25 ago.2019Carolina Maria de Jesus parece desconfortável. É pouco provável que estivesse incomodada com a roupa de festa — vestido bordado, colar, brincos e tiara no cabelo. Afinal, desde o lançamento de Quarto de despejo: diário de uma favelada, deixara de aparecer na imprensa com o proverbial pano branco amarrado na cabeça e as roupas andrajosas que usava na favela do Canindé quando fora apresentada como “a escritora favelada” nas páginas de O Cruzeiro — a mesma revista que publica esse flagrante com que me deparei por acaso. Na fotografia chama a atenção, isso sim, sua solidão, separada por um balcão de cinco mulheres e um homem, todos brancos e bem-vestidos, alguns indiferentes, outros olhando-a com indisfarçada curiosidade.
Era a noite de 24 de julho de 1961 e, no Super Shopping Center, uma imensa galeria comercial em Copacabana, acontecia a segunda edição do Festival do Escritor Brasileiro. Promovido pela União Brasileira de Escritores em busca de verba para construir uma sede própria, o festival tinha em Jorge Amado um de seus principais organizadores e atração de destaque. Jânio Quadros prometeu inaugurar a festa e deu o bolo. Atrasado, o governador Carlos Lacerda abriu os trabalhos do que era, na prática, uma feira de livros cujo modelo teria sido importado da França: cada escritor tinha um “padrinho” ou “madrinha” notório, em geral ligado à vida mundana e à política, com o objetivo de atrair um público não necessariamente leitor.
Apadrinhada discretamente por Darwin Brandão, jornalista, Carolina era uma estrela de brilho próprio. Pelo menos se considerarmos que Rubem Braga tinha como “chamarizes” Tônia Carrero e Carmem Verônica, o popularíssimo David Nasser era “afilhado” de Lacerda, e até o vetusto Affonso Arinos ganhara madrinha, uma certa Patricia, identificada como “manequim de grande fama”. Manuel Bandeira, Lygia Fagundes Telles, Guimarães Rosa, Nelson Rodrigues, Millôr Fernandes e Vinicius de Moraes também integravam o elenco estelar.
Pareceu natural ao redator destacar a vedete e atriz que publicara dois romances e nem sequer mencionar o nome de Carolina
Voltando à foto. Três das mulheres em primeiro plano parecem ávidas pela atenção de Carolina. Uma delas segura com energia seu braço esquerdo. É a única identificada na legenda, que arremata com perversa lógica essa imagem perturbadora: “Literatura não tem cor. A loura Rosângela Maldonado (Chamas do desejo e Tormentos do passado) com a escritora favelada de Quarto de despejo”. Pareceu natural ao redator destacar a vedete e atriz que publicara os dois romances citados (segundo O Jornal envolvendo “amor, ciúme, aventuras do sexo”) e nem sequer mencionar o nome de Carolina, que não consta em nenhum outro lugar das oito páginas de reportagem. O lapso factual só não é mais notável do que o atestado de racismo estrutural: “Literatura não tem cor”.
Jorge Amado
Mais Lidas
A passagem da escritora pelo festival foi das mais turbulentas. Carolina vendeu os cinquenta exemplares enviados pela Francisco Alves, sua editora, em menos de meia hora. Poderia, é claro, ter vendido muito mais. E atribuiu o desempenho sofrível a um boicote de Jorge Amado, que estaria enciumado pelo fato de que, àquela altura, praticamente um ano depois do lançamento de Quarto de despejo, o livro ainda batesse em vendas seus recentes Gabriela e Os velhos marinheiros. Jorge declarou-se “profundamente magoado” com a acusação e foi defendido unanimemente na imprensa.
Em Carolina: uma biografia (Malê), de Tom Farias, essa fotografia não aparece, mas o episódio é tratado em seis páginas. Jorge Amado: uma biografia (Todavia), de Josélia Aguiar, menciona o festival de passagem e não faz nenhuma referência a Carolina. Tais pesos e medidas estão de acordo com o sentido do episódio para seus respectivos personagens: a insubmissão da escritora, justificada ou não, foi para ela importante na mesma medida em que nada representou para um medalhão. O fato é que as reprimendas pelos protestos de Carolina, como se sabe nada estranhos à vida literária, traziam em si uma reprovação austera. Em entrevista à Tribuna da Imprensa, Jorge recomenda que Carolina “deveria ser mais modesta”.
Nas 32 fotos da cobertura de O Cruzeiro, Carolina não é apenas a única autora a não ser tratada pelo nome: é também a única autora negra e, dentre os escritores, a única a ser retratada sem estar assinando um livro. Historicamente, escritores negros foram branqueados por manipulação, pelas roupas que usavam e até pelas poses para retratos — sendo os casos de Machado de Assis e Lima Barreto os mais notáveis.
A imagem de Carolina Maria de Jesus é, no entanto, inalterável e inegociável: num país desde sempre racista e classista, uma mulher negra, descendente de escravizados, mãe solteira e moradora de favela que ganha notoriedade não por seu talento musical ou esportivo, mas por assinar um livro com sua própria história.
Em 1959, na célebre reportagem que a revelou para o mundo, as fotos do próprio repórter, Audálio Dantas, mostram flagrantes da vida na favela e uma pose, inusitada, dela e de sua filha no Largo do Arouche, no centro de São Paulo, com a legenda: “Diante da Academia Paulista de Letras: não é candidata”. No ano seguinte, a cobertura do lançamento de Quarto de despejo inclui um flagrante jamais imaginado para um autor branco: Carolina está diante de um guichê de banco. O redator esclarece: “Quarto de despejo deverá dar a Carolina mais de 300 mil cruzeiros. Na foto, a autora recebe seus primeiros ‘direitos’. Diz que tem compras a fazer”. Um dos títulos dá o espírito da coisa: “Descoberta pelo repórter de O Cruzeiro, Carolina de Jesus saiu do mundo (humilde) da favela para o mundo (dourado) da Arte”.
Carolina ainda é importante coadjuvante no lançamento do livro de um colega escritor: Pelé. E representa uma das “Musas negras do Brasil”, editorial fotográfico que, no texto de abertura, faz o elogio da “gente de cor de Ébano” que “foi obrigada a abandonar o solo africano para servir ao branco na terra primeiramente chamada de Vera Cruz”. Reconta-se o mito das três raças para fazer o elogio não da negra, mas da mulata, “musa negra pela cor dominante, dengue, graça, beleza e requebro numa só palavra”.
Em julho de 1966, de volta ao lugar de onde saiu, Carolina protagoniza a seção “Um fato em foco”: posa nas ruas catando papel, com o indefectível pano branco amarrado na cabeça. “Muito dinheiro ganhou, e tudo gastou”, diz o texto. “A glória, a enganosa glória, um dia a abandonou. E Carolina voltou ao pó. À miséria e à favela.” Voltou, eu diria, ao lugar que sempre lhe fora reservado, sem embaraços, na sociedade brasileira.
Carolina não é apenas a única a não ser tratada pelo nome: é também a única negra e a única escritora a ser retratada sem estar assinando um livro
Carolina não deixaria, no entanto, de ser um problema para a literatura brasileira, evidenciado uma vez mais por um comentário de Benjamin Moser para o qual chamaram a atenção as escritoras Giovana Xavier e Ana Maria Gonçalves. Em Clarice, uma biografia, o escritor americano observa o desconforto de Carolina no único flagrante em que aparece ao lado da autora de A maçã no escuro. Para ressaltar que as aparências enganam, que sua biografada aparentava ser uma madame, mas teria tido uma infância tão miserável quanto a de Carolina, Moser refere-se a essa última não como escritora, mas como a “negra que escreveu um angustiante livro de memórias da pobreza brasileira”. E analisa: “Carolina parece tensa e fora do lugar, como se alguém tivesse arrastado a empregada doméstica de Clarice para dentro do quadro”.
A tragédia de Carolina Maria de Jesus era estar à vontade quando folclorizada como “a escritora favelada”, e intimidada quando simplesmente ocupava o lugar que conquistara, mas que não lhe era destinado. Em 1977, ao morrer empobrecida como tantos outros escritores brasileiros e estrangeiros, negros e brancos, só parecia reforçar a sina dos despossuídos. Mas, a partir dela, a imagem dos escritores jamais voltaria a ser branca.
Nota do editor
O colunista escreve quinzenalmente na revista dos livros. A próxima coluna sai na quinta (15), no site quatrocincoum.com.br.
Matéria publicada na edição impressa #25 ago.2019 em julho de 2019.
Porque você leu Crítica Cultural
Elogio da sombra
Ao refletir sobre suas trajetórias, Jiro Takahashi e Luiz Schwarcz escrevem capítulos essenciais na história da edição de livros no Brasil
JUNHO, 2025