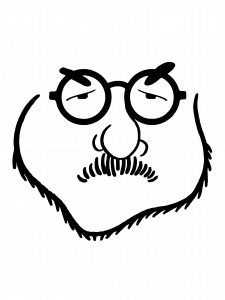Crítica Cultural,
Quando a vida importa
Para a melhor parte dos Estados Unidos e do mundo, vidas negras importam. Para a pior parte do Brasil, nenhuma vida importa
11jun2020Poucas semanas antes do fim do mundo tal como o conhecíamos, um grupo de crianças visitava o Museu de Arte Moderna de São Francisco. As meninas e meninos, negros e orientais em sua maioria, em torno dos dez anos, são acompanhados por duas mulheres, ao que tudo indica professoras. Vestem-se da forma mais simples e parecem acostumados a esse tipo de programa, sentando-se ordeiramente em torno de uma tela. À frente deles, a orientadora de público não guarda a discrição em geral associada à sua função: veste um jogging metalizado, vermelho, e é notavelmente ágil, agitada e falante para os quase setenta anos que aparenta ter.
A sala dedicada à “Arte Pop, Minimalista e Figurativa” é dominada por “Alexander the great”. O quadro de 2,43 metros por 1,82 metro combina composição clássica e realismo ao retratar um jovem negro que encara o público como uma hierática figura comum entre os chamados grandes mestres europeus. Os fones de ouvido e o agasalho do San Diego Padres, time de beisebol da Califórnia, estabelecem estranha harmonia com a pose senhorial – uma mão na cintura ostentando um pesado anel, outra apoiada numa espada. Os arabescos ao fundo e a moldura pesada reforçam as dissonâncias e o anacronismo.
Sou tão desinformando quanto as crianças, acho, em relação a Kehinde Wiley, o artista. Ligo o nome à pessoa quando, em casa, descubro ser dele o espantoso retrato de Barack Obama da National Portrait Gallery de Washington. Filho de mãe afro-americana e pai nigeriano, esse californiano negro, gay, que passou a juventude (ele tem 43 anos) aterrorizado pela polícia de Los Angeles, costuma pintar afro-americanos em situações e poses clássicas da arte ocidental. Não sem ironia, leva a galerias e museus pessoas como ele, pessoas que, apesar de todas as valiosas conquistas dos movimentos de direitos civis, os Estados Unidos massacram há quatrocentos anos.
Mas até aquele momento nada disso estava sendo levado em conta – nem por mim nem, acho, pelas crianças. Não sabíamos nada – quer dizer, eu pelo menos não sabia – sobre a obra e o artista, não tínhamos lido a legenda.
Mais Lidas
“Levantem!”, diz a guia, quebrando o protocolo deste tipo de visita, para logo pedir que todos reproduzam, como ela, a pose do modelo de Wiley: quadril para a frente, cabeça erguida. “Como estão se sentindo assim? Não é bom?”. Todos concordam, riem, alguns exageram ainda mais a postura. Mais risadas.
As poucas pessoas na sala além das crianças não conseguem prestar atenção em outra coisa. Reprimindo a vontade de também experimentar, com a pose, a altivez do modelo, me dedico a ouvi-los. “Quem é ele?”, pergunta a orientadora. “Um rapper”, responde uma menina. “O que ele lembra?”, provoca. “Obama”, arrisca um garoto. Um outro menino, com notáveis dificuldades de expressão e cognição, levanta a mão e decide descrever o quadro, sendo pacientemente ouvido por todos.
Segue-se uma conversa de impressionante densidade política, esse elemento cada vez mais estranho à vida brasileira. Alexandre, o Grande é aqui representado por Mohamed Dione, jovem cineasta de ascendência senegalesa. Honrar os negros com o lugar reiteradamente reservado aos brancos é o que também fazem dois outros artistas expostos na mesma sala, Chris Ofili e Mikhalene Thomas. O grupo também comenta os dois, mas só tem olhos para a pintura monumental de Kiley.
Um americano branco, grisalho, olha para mim enquanto a turma segue atrás da elétrica orientadora. E comenta em voz baixa: “Não vamos ver nada melhor nesse museu hoje”.
Projeto de poder
Tenho vontade de dizer que, pelo menos ao que nos tocava, aos brasileiros, tão cedo não iríamos ver nada nem remotamente parecido com isso sob um governo fascista. E olha que naquela tarde de inverno a pandemia parecia uma ameaça distante, bem como o assassinato em massa da população brasileira (principalmente a mais pobre e mais preta) por uma combinação de negacionismo da ciência e perversão política. Naquele dia, que parece um idílio distante, a polícia do Rio de Janeiro ainda não tinha concluído mais uma etapa na execução sumária de jovens negros. E a presidência da Fundação Palmares não era ocupada por um racista.
Não havia ocorrido, finalmente, a execução de George Floyd, asfixiado por um policial branco de Minnesota. E milhares de americanos não tinham saído às ruas para protestar pela política de extermínio e, também, para começar a dar a Trump o que ele merece – na verdade uma enésima parte do que ele merece. Talvez porque naquele país, de diversas formas brutal e injusto, crianças pobres e pretas e imigrantes certamente sofrem, mas também tem a possibilidade de frequentar um museu em que se miram não apenas em funcionários, mas nos modelos e nos artistas que lá expõem.
“Eu não consigo respirar” foram as últimas palavras de Floyd, repetidas em todo o mundo como slogan de arrebatadoras manifestações. Dos nossos quase 40 mil mortos, quase todos sufocados, não se tem registro do que disseram. Suas vozes debilitadas foram abafadas por rajadas de tiros da polícia e pelos delírios e faniquitos do nosso Führer de chanchada e de seus tristes seguidores.
Para a melhor parte dos Estados Unidos e do mundo, vidas negras importam. Para a pior parte do Brasil, nenhuma vida importa. Nada importa mais do que o projeto de poder que tem na morte um de seus principais pilares.
Porque você leu Crítica Cultural
Elogio da sombra
Ao refletir sobre suas trajetórias, Jiro Takahashi e Luiz Schwarcz escrevem capítulos essenciais na história da edição de livros no Brasil
JUNHO, 2025