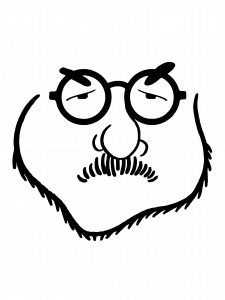Crítica Cultural,
Diário de um ano ruim
Colunista da Quatro Cinco Um comenta "biografia" de 2018, o ‘ano em que o Brasil flertou com o apocalipse’
01jul2019 | Edição #24 jul.2019A ideia de Mário Magalhães de “biografar” um ano como se fosse gente dá pano para manga. Historiadores geralmente torcem o nariz para essa invenção na mesma medida em que ela entusiasma jornalistas fascinados por história e, sobretudo, por boas histórias. Lendo 1776 — A história dos homens que lutaram pela Independência dos eua, de David McCullough, Laurentino Gomes se deu conta de que o livro que então terminava, sobre a chegada da família real portuguesa ao Brasil, deveria ser batizado pelo ano-síntese do que ali era relatado, 1808. Nascia o modelo para a trilogia completada com 1822 e 1889, sobre a Independência e a república.
A academia também tem lá seu crush por esses personagens fascinantes. Hans Ulrich Gumbrecht, professor de literatura comparada em Stanford, tirou um período sabático para mergulhar numa outra época e saiu dela com os originais de 1926: vivendo no limite do tempo. No Collège de France, Antoine Compagnon, titular de literatura francesa moderna e contemporânea, batizou seu curso de 2011 como “1966: annus mirabilis”, defendendo a tese engenhosa — e muito convincente, diga-se — de que, pelo menos na França, o mítico 1968 começou dois anos antes.
Zuenir Ventura iniciou a moda por aqui carimbando o mesmo 1968 como “o ano que não terminou”, título do livro que marcou o vigésimo aniversário daqueles doze meses que tripudiaram os limites do calendário. E é a ele que Mário Magalhães presta tributo em Sobre lutas e lágrimas: Uma biografia de 2018. Autor de Marighella: o guerrilheiro que incendiou o mundo, o jornalista ocupa-se agora de um personagem mais deprimido e melancólico do que o guerrilheiro baiano. E que, decididamente, não morreu nos primeiros minutos de 2019.
“O ano em que o Brasil flertou com o apocalipse”, sendo este o epíteto escolhido por Magalhães, começa com um réveillon, emulando a narrativa de Zuenir. Na virada de 1967 para 1968, boa parte da esquerda carioca mostrou que era festiva para valer, no bom e no mau sentido: a, digamos, intensa comemoração na casa de Luís e Heloisa Buarque de Hollanda terminou em dezessete separações, tapas, discussões políticas e sexo. A chegada de 2018 é mais delicada no relato detalhado da noite de Marielle Franco e Monica Benício, reunidas com amigos num sítio, celebrando o casamento e planejando filhos. A harmonia precede a catástrofe: em 14 de março, a execução da vereadora carioca e do motorista Anderson Gomes, ainda impune, é uma espécie de abre-alas de nosso célere cortejo de horrores em direção à barbárie.
Mais Lidas
Pensando bem, não podia mesmo dar certo um ano que começa com uma matança de macacos, responsabilizados, sobretudo em correntes de “zap”, pela transmissão de febre amarela. E, convenhamos, para quem se convenceu de que bugio bom é bugio morto, é fácil, quase natural, zurrar que o lugar do Lula é na cadeia e o de Jair, no Planalto. Duro é admitir que a hiper-realidade moldada por nossas misérias e notícias falsas é um espelho distorcido, mas não de todo fantasioso, do que no fundo somos: um país atrasado, preconceituoso, intolerante e violento. Se alguém ainda acreditava na bonomia do brasileiro, 2018 veio para tirar qualquer dúvida.
Sobre lutas e lágrimas busca um foco entre a distância que biógrafo deve ter de biografado e a proximidade que lhe proporciona riqueza de detalhes. A narrativa, originada em colunas do The Intercept Brasil, alinha alguns dos grandes marcos desse ano aziago — do incêndio do Museu Nacional ao resultado das eleições —com fatos miúdos, supostas irrelevâncias, onde, diz-se, moram Deus e diabo. Se não, vejamos: a rádio que conclama lgbts a se tornarem estatísticas da violência homofóbica, as faixas que em diferentes manifestações pediram a volta da ditadura, a fixação anal do cartomante da Virgínia, a destruição ritual da placa de rua em homenagem a Marielle, a banalização do feminicídio e do suicídio, as prédicas políticas de Luciano Huck e do doutor Bumbum, o alvoroço dos generais, a patriotada dos “cidadãos de bem”.
A vertigem da enumeração daquilo que muita gente boa minimiza ou desdenha por miopia, conveniência ou desonestidade intelectual não turva o essencial: 2018 foi um ano em que a pulsão de destruição e morte transbordou dos bueiros para atravessar de cabo a rabo a sociedade brasileira. E que, em outubro, seria levada ao poder pela legítima e sacrossanta vontade do eleitor — com uma ajudinha providencial de seletividades jornalística, política e jurídica.
Ler Sobre lutas e lágrimas em meados de junho de 2019, sitiado por doses crescentes de truculência e denúncias espantosas, mas não surpreendentes, é ter certeza de que aquele ano não só não terminou como, conforme adverte o autor, “tão cedo não vai terminar”. Se algumas das piores ameaças de campanha enfrentam obstáculos, ainda que tímidos, para se concretizar, não há dúvida de que foram alcançadas as condições ideais de temperatura e pressão para ferver o caldo reacionário que, no fundo, era a grande promessa de campanha do capitão.
Intelectuais adversativos
Em setembro último, numa outra encarnação colunística, chamei de “intelectuais adversativos” aqueles que então se recusavam ao posicionamento público contra o indefensável. Mário Magalhães registrou a expressão como uma das marcas do debate das ideias do ano de 2018. Na minha retrospectiva pessoal, o ano foi um reflexo fiel do que se lê em Sobre lutas e lágrimas. Até porque ficará sempre como o ano em que, pela primeira vez, sofri a ação do Cala-Boca, personagem em eterno plantão e que sempre volta, operoso, em momentos que conjuguem arbitrariedade, hipocrisia e subserviência. Como, por exemplo, nestes anos em que vivemos em perigo.
Matéria publicada na edição impressa #24 jul.2019 em junho de 2019.
Porque você leu Crítica Cultural
Elogio da sombra
Ao refletir sobre suas trajetórias, Jiro Takahashi e Luiz Schwarcz escrevem capítulos essenciais na história da edição de livros no Brasil
JUNHO, 2025