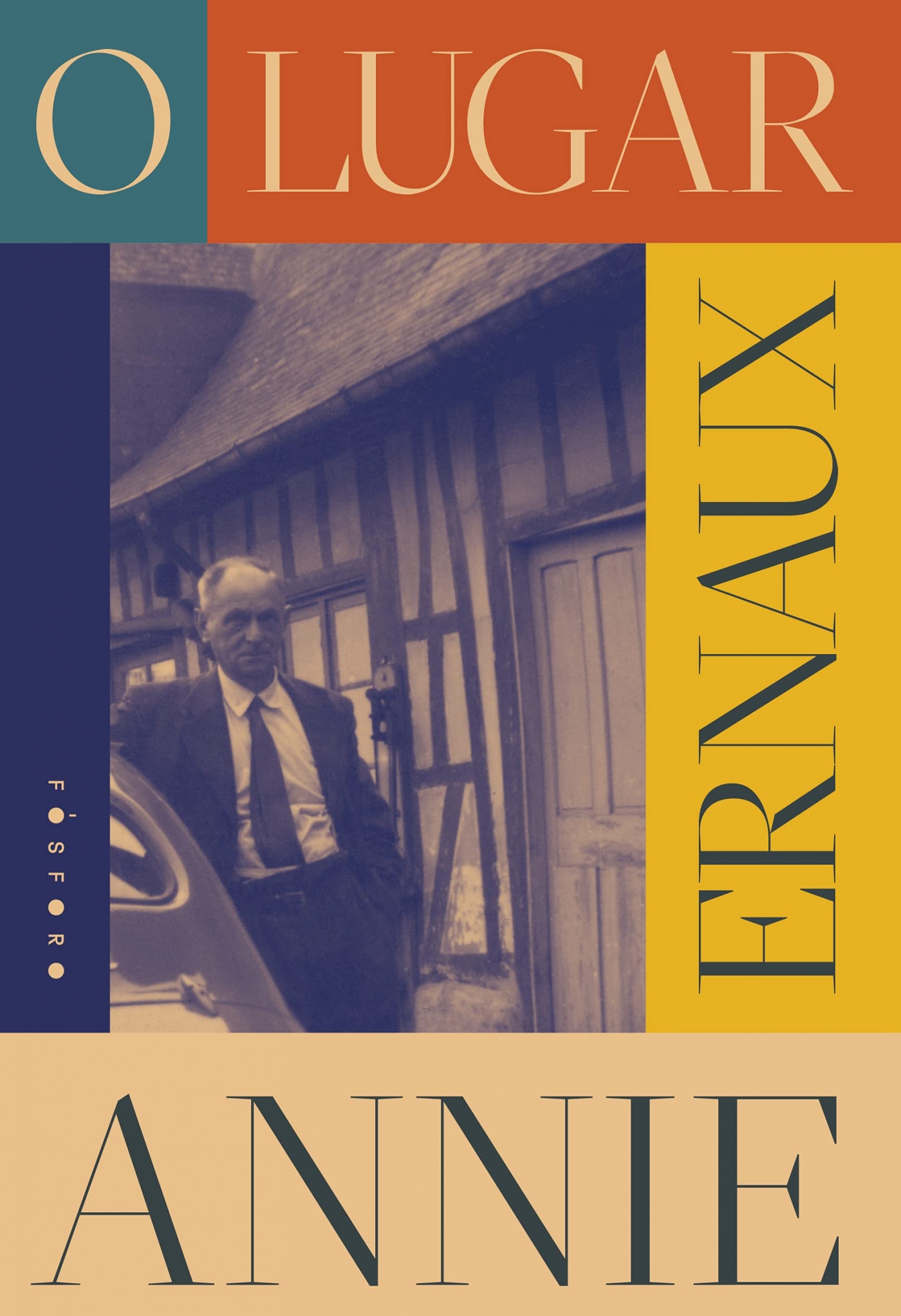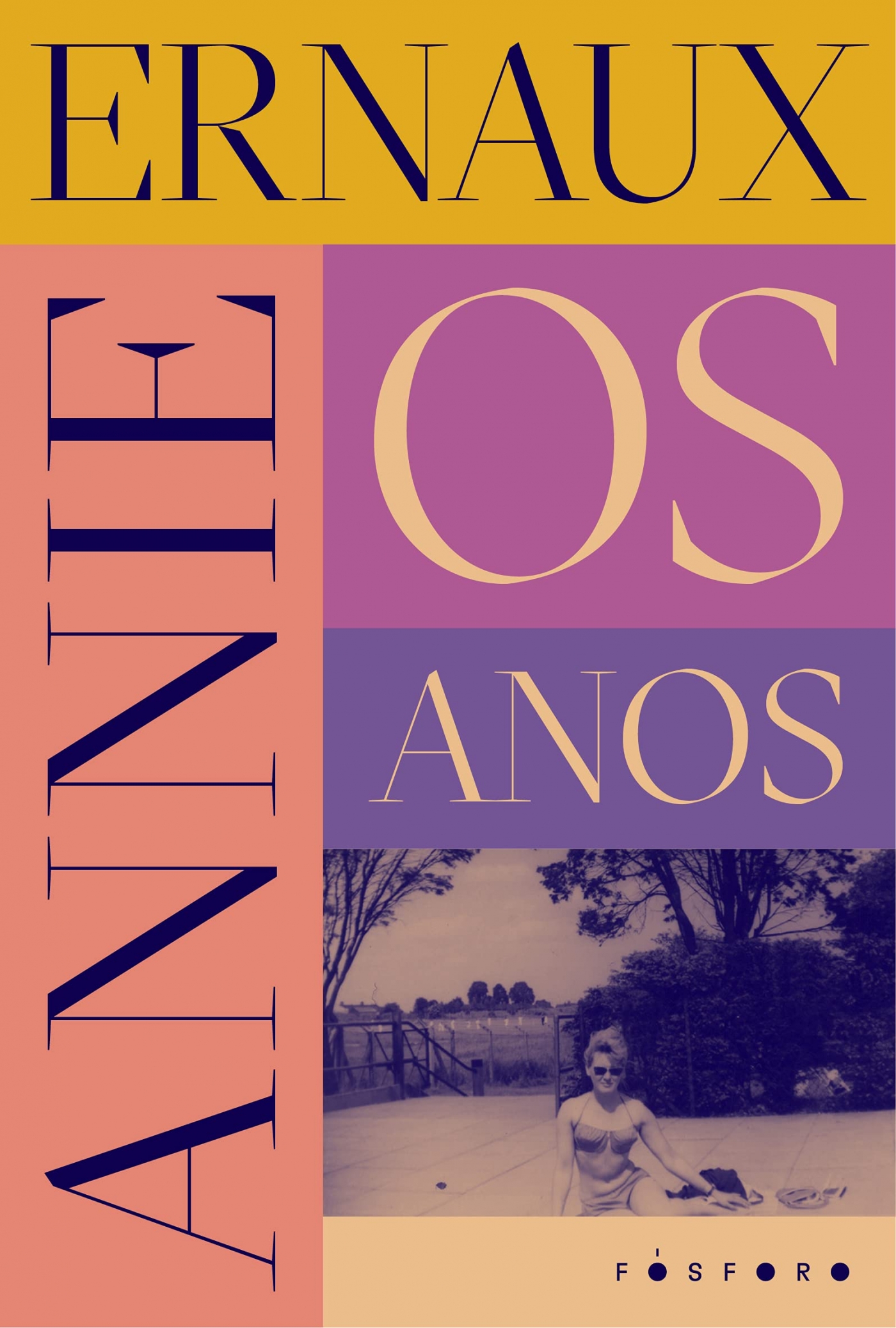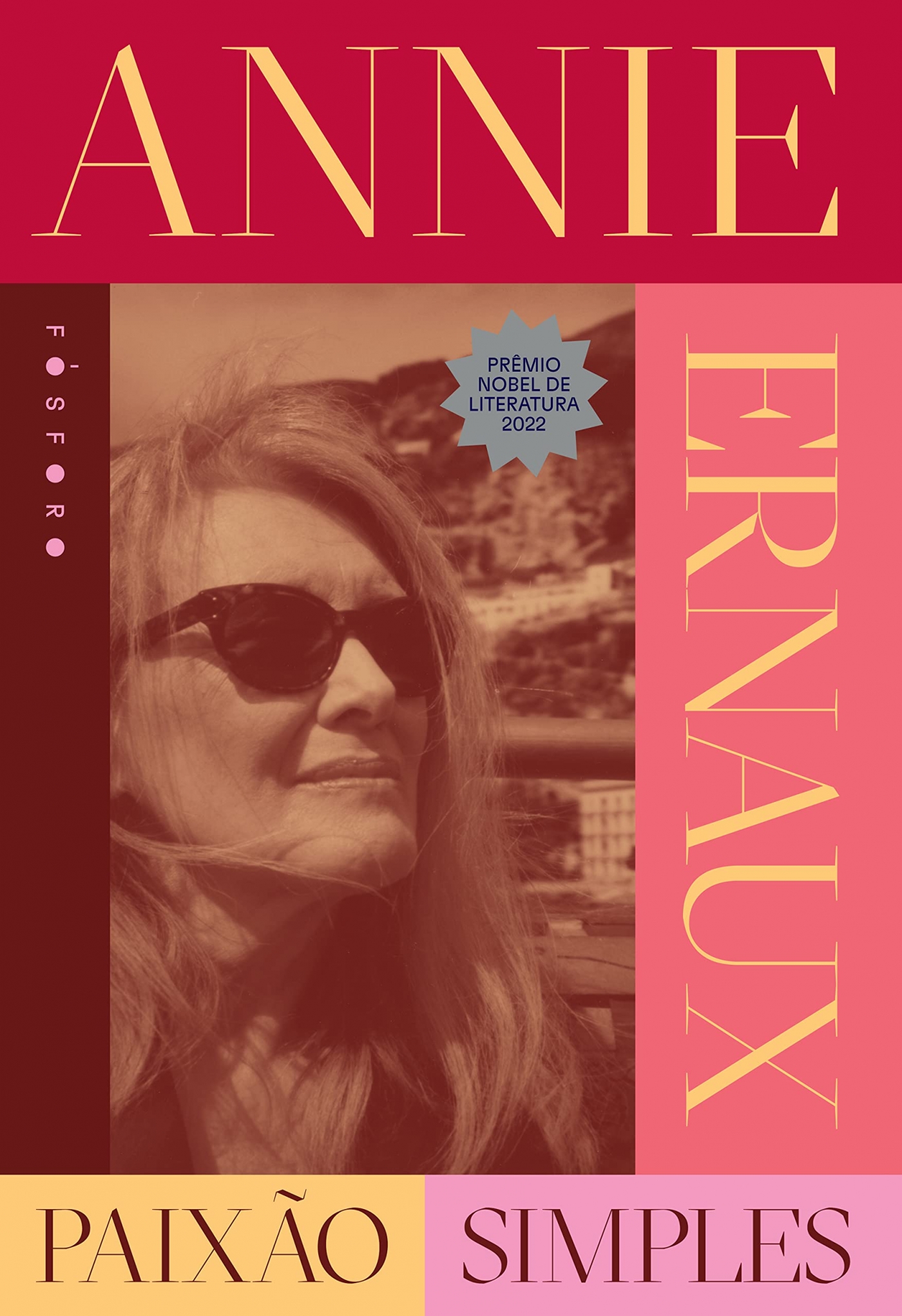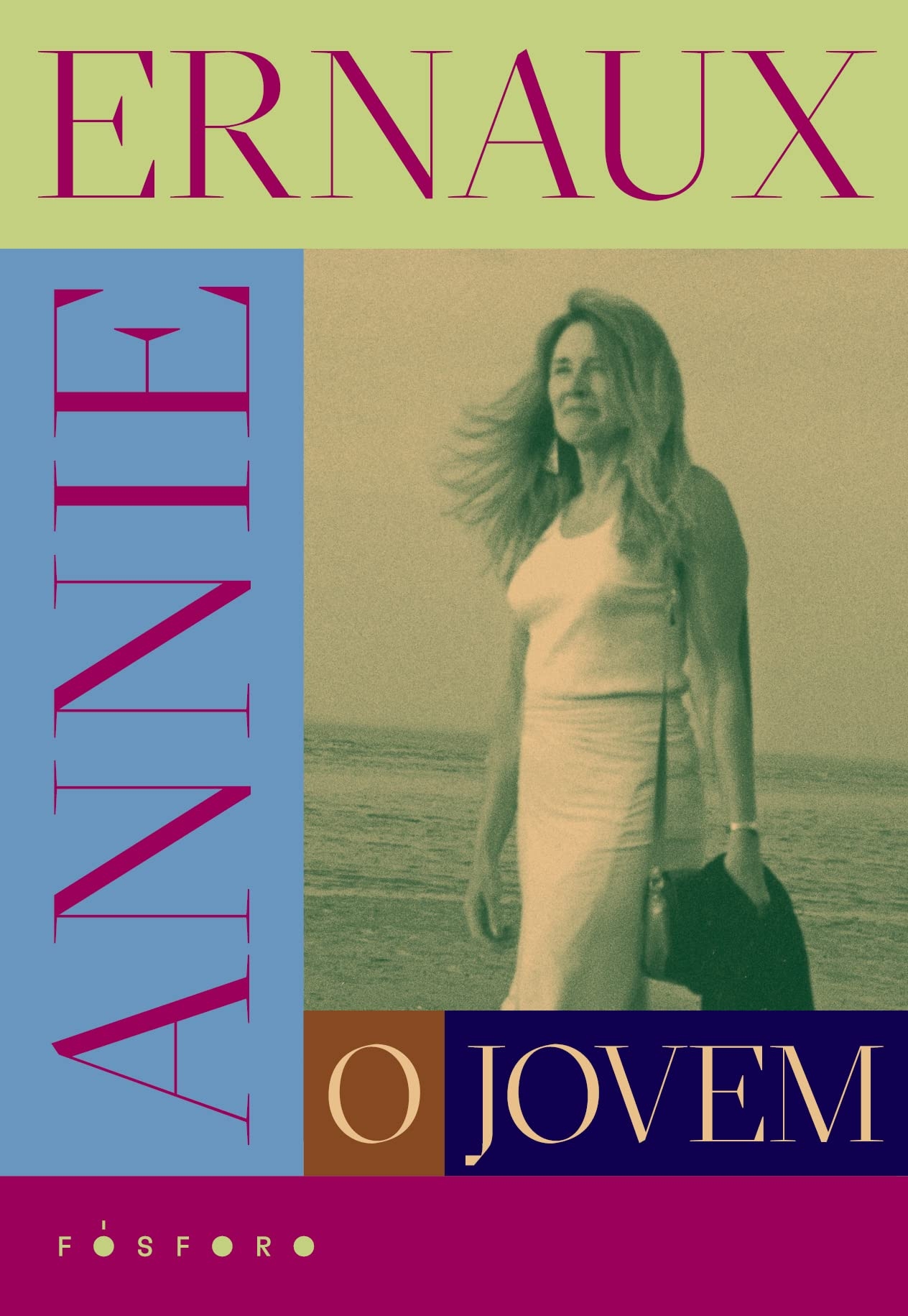Literatura,
O impacto da sinceridade
Obra de Annie Ernaux surpreende por romper com tudo que podia ser escrito por mulheres
01jul2023 | Edição #71Talvez sem muito motivo além do comentário de F. Scott Fitzgerald de que “a França tem as duas únicas coisas pelas quais somos atraídos ao envelhecer — inteligência e bons modos”, juntamos as nossas coisas nos últimos e sombrios dias de um mês de dezembro e decidimos nos mudar para Paris. Sempre ouvi que, para quem escreve, é agradável morar em um lugar onde se concede o mais alto respeito à leitura e à escrita, e de fato — ao menos em Paris — podia-se ver gente lendo e escrevendo em público: em todos os parques e cafés, no metrô e nos bancos às margens do Sena, as pessoas se dedicavam abertamente àquilo que para mim sempre foi a mais privada e solitária das ocupações. Aqui, as livrarias ainda mantinham seu espaço em meio às vitrines das lojas, e em todos os cantos ostentava-se o endeusamento de escritores franceses, vivos e mortos, em nomes de ruas, estátuas e outdoors com anúncios de novos romances. Ouvi um astronauta lendo no rádio trechos de Marguerite Duras direto da estação espacial para a sua plateia aqui na Terra.
Então, em outubro último, a escritora Annie Ernaux ganhou o prêmio Nobel de Literatura, a primeira francesa a realizar esse feito. Fazia quase dois anos que morávamos na França e, em meio às sensações alternadas de confusão e injeção de ânimo que esse furor inevitavelmente causou, Annie Ernaux passou a representar para mim um referencial inquietante de coerência. Durante os meus primeiros meses em Paris, quando, pela primeira vez na vida, parecia que ficar deitada no sofá lendo um livro era algo que eu não apenas podia, mas devia fazer, avancei lentamente, com o meu francês canhestro, na leitura de textos curtos, um atrás do outro. O lugar, Une Femme [Uma mulher], Paixão simples, L’Occupation [A ocupação], Os anos. A história que contam, e com um rigor que exclui qualquer coisa que não pertença imediatamente a ela, é a de Annie Duchesne (o nome de solteira de Ernaux), filha única de um casal de proletários franceses que tocava um modesto café-épicerie em Yvetot, uma cidadezinha na Normandia.


O lugar e Os anos contam a história de Annie Duchesne (o nome de solteira de Ernaux), filha única de um casal de proletários franceses que tocava um modesto café-épicerie em Yvetot
Por meio de sua excelência acadêmica, Annie consegue escapar do lodaçal de suas origens familiares e chega ao magistério, casa com o primeiro homem que aparece, afunda em um purgatório burguês como dona de casa e mãe e lentamente se liberta dessa nova prisão escrevendo livros — livros que tentam parar o tempo ao questionar e reconstruir, com a precisão possível, os acontecimentos que a trouxeram até a sua existência de agora. Quem é ela, e de onde ela veio? Quem eram os pais dela, e por que viviam daquele jeito? Por que ela agiu daquela maneira ao se libertar deles, e até que ponto a vida dela é uma consequência disso? Teria ela, em algum momento, consciência do que estava vivendo, ou essa tarefa de escrever e reconstruir seria um esforço para dar sentido ao destino cego?
Como é que uma mulher que só escrevia sobre si mesma podia ganhar o maior prêmio literário do mundo?
Apesar das diferenças — de nacionalidade, geração, classe social e situação familiar — entre a minha vida e a de Annie Ernaux, conforme fui lendo eu me sentia mergulhada num estado de identificação cada vez mais profundo. No entanto, parecia que eu me identificava com coisas que ninguém costuma confessar. A sinceridade de Ernaux acabava despertando a leitora para uma profunda e insuspeita falta de liberdade. Como é que ela, com a simples história das suas origens, apreendeu com tanta convicção a tragédia humana que é a capacidade de nos tornarmos seres não livres? A resposta talvez esteja em sua fé na escrita como atividade sagrada e transcendente. Ela acreditou na escrita feito algumas pessoas acreditam na religião, como uma esfera onde o eu, a alma, pode encontrar abrigo.
Mais Lidas
Havia uma relação muito específica entre quem ela era como escritora e quem era como mulher: ambas habitavam o mesmo corpo. Era a esse corpo que ela estava confinada, concreta e artisticamente — ao seu destino social e econômico, às suas limitações de gênero, de localização geográfica e de tempo. O que acontecia a esse corpo e nesse corpo, e o que ele, por sua vez, fez acontecer nos anos entre o nascimento e o presente: eis os limites e a extensão do material dela.
Na França, país que se tem em alta conta por sua cultura literária, a notícia do Nobel provocou uma irrupção febril de orgulho, mas também explosões assombrosas de veneno. Como é que uma mulher que só escrevia sobre si mesma podia ganhar o maior prêmio literário do mundo? Madame Ovary, como foi chamada por um crítico francês conservador, era o exemplo paradigmático da erosão da arte literária pelas narrativas de autocomiseração e marginalização. A inteligência — e até a sanidade — do comitê do Nobel parecia estar sendo questionada. Me explicaram que, na França, expor aspectos pouco glamourosos da realidade feminina — as reclamações da bonne femme, ou dona de casa — era amplamente considerado de mau gosto. Ao que parece, havia também a questão do ciúme — do sucesso de Ernaux, do frescor dos leitores dela, e agora desse grande prêmio — por parte da velha guarda literária masculina. Mas, para mim, essas explicações eram desnecessárias: as agressões eram simplesmente a evidência de que o ponto nevrálgico da verdade havia sido tocado.
Ernaux compreendia a profundidade do isolamento e da perda em que precisava mergulhar
Desde o início dos seus cinquenta anos de carreira, a franqueza inabalável da voz de Ernaux causou um impacto extraordinário: o retrato dilacerante da maternidade e da vida burguesa em família em La Femme gelée [A mulher congelada]; os relatos magistrais e impiedosos da vida e da morte dos seus pais — e, assim, da França pobre e interiorana — em O lugar e Une Femme [Uma mulher];
a análise da sujeição extrema no cerne das relações sexuais em Paixão simples e L’Occupation. Um depois do outro, seus trabalhos afastaram ou desapontaram grupos diversos dentro do espectro social e político, dos patriarcas culturais às feministas. Talvez soe óbvio que o impacto traduz uma verdade e revela mais sobre a pessoa que o sente do que sobre a objetividade artística que o provocou, mas, no caso de Annie Ernaux, a ação comum do tempo, de fazer as pessoas lidarem com a verdade, não parece ter se consumado.

Em Paixão simples, a franqueza inabalável da voz de Ernaux aparece na análise da sujeição extrema no cerne das relações sexuais
“Neste verão, assisti pela primeira vez a um filme pornográfico”, escreve na abertura de Paixão simples. Ela continua:
O enredo era incompreensível, sendo impossível prever gestos ou ações. O homem se aproximou da mulher. Houve um close no sexo da mulher, bem nítido em meio às cintilações da tela, e em seguida o sexo do homem, com uma ereção, entrou no da mulher. Por um bom tempo, o vaivém dos dois sexos foi mostrado sob vários ângulos. […] É certo que nos habituamos a ver essa cena, mas na primeira vez ela é sempre chocante. Séculos e mais séculos, centenas de gerações, e só agora podemos ver um sexo de mulher e um sexo de homem se juntando, e o esperma — aquilo que não podíamos olhar sem quase ter um troço se torna agora tão acessível quanto um aperto de mão. Eu achava que a escrita deveria se aproximar dessa impressão provocada pela cena do ato sexual, desse sentimento de angústia e torpor, da suspensão de julgamento moral.
•
Ler um livro de Annie Ernaux depois do outro era como assistir à construção de um edifício em tempo real, uma coisa que brotava da terra molhada e era fabricada tijolo por tijolo. A beleza e a brevidade perturbadoras desses livros, bem como a sua aparente simplicidade, de certa forma disfarçavam o alto preço de sua sinceridade. Eu nunca tinha visto a suposta liberdade — o “narcisismo”, como agora gostamos de chamar — da análise de si mesma ser tão exposta em sua brutalidade. Ernaux compreendia a profundidade do isolamento e da perda em que precisava mergulhar para buscar a realidade original de seu ser. Sua arte não tem nada a ver com a ênfase em uma experiência pessoal; pelo contrário, é quase uma autoviolação. O que Annie Ernaux entendeu foi que, como filha da classe operária do interior, o seu ser era o seu único bem autêntico neste mundo, portanto o único lugar onde ela poderia assentar a legitimidade da sua arte. Deitada no sofá, eu me vi lentamente enclausurada pela realidade concreta desse edifício e dos seus elementos. A menina Annie cresce em um ambiente de miséria e de trabalho duro. É filha única, a irmã mais velha morreu de difteria aos seis anos. O pai toca o café enquanto a mãe cuida da loja, os dois espaços são ligados por um corredor que faz as vezes de cozinha da família. Não há banheiro, apenas uma privada para os clientes e para a família, no pátio externo.
Ao longo do tempo, a sua realidade ganha forma escorando-se em determinados pontos de apoio, a mãe e o pai, de modo mais evidente, e o labirinto espremido do café e da loja, com aposentos simples no andar de cima — um mundo sem privacidade nem solidão, um mundo em que o observador está tão exposto quanto quem é observado —, mas também escorando-se na sua própria e emergente excepcionalidade, que logo se torna objeto de um misto de terror e orgulho dos pais. Bem cedo, ela começa a apresentar resultados extraordinários na escola. Está claro que vai cair no mundo, mas que mundo é esse, e como, e com que objetivo ela vai sobreviver nele? O conservadorismo e catolicismo deles — características imutáveis da paisagem proletária interiorana onde vivem — turvam completamente o tema de sua feminilidade e sexualidade crescentes. Fosse uma menina normal, ela se casaria cedo, com a virgindade intacta. Esse futuro de estudos lembra vagamente o futuro de uma freira e corre o risco de ser arruinado se, por exemplo, feito um espécime raro, ela nunca arranjar um marido. Mas os pais dela, e principalmente sua mãe, não querem que ela seja como eles, econômica e socialmente presa em um ciclo de labuta infindável. Na escola, ela logo se dá conta de sua inferioridade, mas
em casa, em seu próprio território, a filha do merceeiro — como o pessoal do bairro a chama — pode tudo. Serve-se à vontade na bombonnière e nas caixas de biscoito, fica na cama lendo até o meio-dia durante as férias, nunca põe a mesa e não lustra seus próprios sapatos. Ela vive e age como uma rainha.
O único luxo da mãe é a leitura, hábito que Annie adquire dela.
•
Mimada pelos pais e ao mesmo tempo prisioneira deles, oprimida pelo fardo da perspectiva de se libertar de tudo o que conhece, a menina tenta conter dentro de si as violentas forças da ignorância e do desejo, o problema de tudo dever a pessoas que nada podem lhe ensinar, o desconforto crescente com suas origens, que se soma ao mistério de como ter uma vida diferente. Ainda que ela não saiba disso, o seu isolamento — o único resultado tangível, na verdade, de sua excepcionalidade — é imenso. Essa excepcionalidade é o grande tema e o problema da obra de Annie Ernaux, o Outro com quem ela discute livro após livro, e que ora toma a forma da culpa e da vergonha, ora de uma liberdade selvagem e vertiginosa. A excepcionalidade se esforça o tempo todo para se conformar à normalidade, fazendo com que volta e meia ela se adapte a coisas que se contradizem e se chocam diretamente. Mais cedo ou mais tarde, a adaptação resulta em revolta: ela está presa e se liberta, cria e destrói e sobrevive, aprendendo e reaprendendo por esse caminho, árduo e muitas vezes desastroso, os elementos opostos da realidade interna e externa. A excepcionalidade dela não reside, na verdade, nas qualidades intelectuais, físicas ou morais. Trata-se da excepcionalidade da artista, da pessoa que vive para contar.
Em 1958, aos dezoito anos, ela tem a oportunidade de trabalhar por um mês no grupo de monitores de um acampamento de verão para crianças em S., um vilarejo no departamento de Orne, na Normandia. Com essa primeira experiência de liberdade, explode o inexequível barril de pólvora da sua identidade. “Fazer uma lista dos desconhecimentos sociais dela seria interminável”, Ernaux escreve em Mémoire de fille [Memória de menina]. “Ela não sabe usar o telefone, nunca tomou banho de chuveiro nem de banheira. Não tem nenhuma experiência em nenhum meio social além do seu.” No mundo de classe média do acampamento de férias, ela é, ao mesmo tempo, desajeitada e afrontosa, sem modos, sem gosto, sem charme e sem savoir-faire — em uma palavra, ela é inaceitável. Ela afasta tanto os colegas quanto os veteranos, ganha a reputação de ser sexualmente disponível e não tem sequer a capacidade de identificar o que aconteceu. Mesmo assim, sabe ainda que será completamente esquecida por aquelas pessoas. “Eu também quis esquecer aquela menina”, escreve Ernaux.

Mémoire de fille (Memória de menina) resgata as vivências de Ernaux aos dezoito anos, no mês em que trabalhou em um acampamento de verão em 1958
Esquecê-la de verdade, isto é, não ter mais vontade de escrever sobre ela. Não pensar mais que preciso escrever sobre ela, seu desejo, sua loucura, sua imbecilidade e seu orgulho… […] Sempre há frases no meu diário, alusões à ‘menina de S.’, ‘a menina de 58’. Há vinte anos escrevo ‘58’ nos meus projetos de livro. É o texto que sempre falta. Sempre adiado. O buraco inominável.
Naquelas semanas no acampamento, ela discretamente abandona, quase sem perceber, as ambições acadêmicas. Ajusta as expectativas: em vez de ir para uma universidade de prestígio, vai estudar para se tornar professora primária. As semanas no acampamento, que na época ela acreditava serem o umbral para o futuro, foram na verdade o ponto de retorno ao passado. Ela teria de se haver com cada momento daquele passado, tanto pessoal quanto artisticamente. Aquilo de que ela tencionava fugir se tornaria, de maneira muito diversa, o seu destino.
Lapidar, implacável, impactante, o rigor de sua disciplina era equivalente à sua liberdade despudorada
Às vezes, ao lê-la, eu tinha a curiosa ilusão de que aquela mulher premiada de 82 anos não era mais velha do que eu, e sim mais nova — que a voz dela vinha de um futuro em que a expressão feminina podia ser mais audaz, mais séria, mais liberal. Como se, diante desse futuro mais evoluído, eu estivesse frustrada com a minha própria feminilidade, que fez concessões. Como ela conseguiu ser tão ousada, tão franca, tão autônoma — tão livre?
A resposta, talvez, seja a vergonha: Ernaux parece ter entendido desde o início que a vergonha é a outra face da verdade. Ela usa a vergonha como um mapa, a sua presença em diversos pontos da história dela a conduz infalivelmente para o ocultamento do eu, enterrado debaixo dessa vergonha. Além disso, esta última tem uma excelente memória, “mais minuciosa, mais inflexível que qualquer outra. A memória […] é o dom especial da vergonha”.
Talvez tenha sido a vergonha em relação às suas origens que resultou em O lugar, livro que cimentou seu posto na cultura literária francesa. A voz dela, tão diferente de qualquer outra, contou a história de uma França que não supunha poder se manifestar. Lapidar, metódica, implacável, impactante — “clínica” foi a palavra escolhida pelo comitê do Nobel —, o rigor de sua disciplina era equivalente à sua liberdade despudorada. Era esse, então, o fruto estranho do café-épicerie de Yvetot, essa voz dotada de uma indestrutível força interna, mas que não reconhecia nenhuma lei convencional, capaz de aguentar tanto sofrimento, mas tão boa em aprender com ele, e que escapou do condicionamento burguês do caráter, e por isso sempre foi mais forte do que as coisas que a confrontavam.
•
Pouco tempo depois da minha chegada a Paris, e querendo melhorar o meu francês, fui apresentada a uma escritora que queria melhorar o inglês dela. Começamos a nos encontrar toda semana, para conversas que mudavam de idioma no meio, como um time de futebol troca de lado de campo no intervalo. A escritora era Delphine de Vigan, uma romancista praticamente da minha idade e que, assim como eu, tem dois filhos já crescidos e não vive mais com o pai deles.
No começo ficamos meio tímidas, uma timidez que parecia brotar da nossa disponibilidade. Separar um tempo no meio da tarde só para conversar era um luxo a que nenhuma de nós sentia que podia se dar. Trabalhávamos para pagar as contas e éramos responsáveis por cuidar da casa; ambas passamos anos escrevendo em condições extremas, lidando com interrupções e com as obrigações da maternidade; ambas tínhamos imensa dificuldade em nos considerarmos artistas; e mesmo assim, apesar do nível de exigência da nossa condição para escrever, ou talvez por causa dele, ambas escolhemos o caminho arriscado da análise de si, em busca de uma verdade de certo modo inelutável, a verdade de quem éramos no mundo, e por quê.
O primeiro romance de Delphine de Vigan, Jours sans faim [Dias sem fome], é um relato da sua quase morte por anorexia quando era jovem, mas nos romances seguintes ela se afastou com determinação do material autobiográfico, de modo que aquele texto magro e agonizante permaneceu como uma pergunta sem resposta. O que a tinha levado — o que leva qualquer um — a passar fome a ponto de quase perecer, bem no momento em que está conquistando autonomia? Essa forma especificamente feminina de atacar a si mesma parecia descrever alguma coisa, uma sombra ou um silêncio, estendida no meio do campo da expressão de si.

A escritora francesa Delphine de Vigan, autora de Baseado em fatos reais [Jouandeau/Intrínseca/Divulgação]
Eu também, em alguns momentos, senti que corria o risco de me tornar fundamentalmente isolada do meu próprio material, quando a minha vida biológica de mulher começou a fabricar situações e experiências estranhas à escrita de ficção e até inadmissíveis. Como eu poderia tratar de um tema cujo poder de anulação era tão grande que ameaçava o próprio ato de representar? Escrever sobre a maternidade, por exemplo — ter distanciamento e um olhar atento e objetivo em relação à invasão biológica do ser —, parecia uma impossibilidade não apenas prática, mas também intelectual. Para ter sucesso como artista — ao que parecia —, tanto a inconveniência quanto a própria realidade da feminilidade precisavam ser escrupulosamente escondidas.
“Minha mãe estava azul, um azul pálido meio cinzento, as mãos estranhamente mais escuras que o rosto, quando a encontrei na casa dela naquela manhã de janeiro”, assim começa Rien ne s’oppose à la nuit [Nada segura a noite], as envolventes memórias de De Vigan, de 2011.
As mãos como que manchadas de tinta, nos nós dos dedos. Fazia muitos dias que minha mãe estava morta. Não sei quantos segundos ou até minutos levei para entender isso, apesar da obviedade da situação […], muito tempo, um tempo esquisito e febril, até um grito escapar dos meus pulmões […]. Mesmo hoje, mais de dois anos depois, isso ainda é um mistério para mim, por qual mecanismo meu cérebro foi capaz de se afastar da visão do corpo da minha mãe, e sobretudo do cheiro dele, como levou tanto tempo para aceitar a informação que jazia à sua frente? Essa não foi a única pergunta que a morte dela deixou para mim.
Com esse livro, Delphine de Vigan marcou espetacularmente o fim da sua autoanexação, ou melhor, o ponto em que a pressão interna da verdade fez o seu conteúdo jorrar para o mundo. O suicídio da mãe foi uma espécie de recusa ou despedaçamento da narrativa feminina. Para entendê-lo, cada aspecto da realidade de Delphine de Vigan precisou ser desmontado: a carapaça completa do eu, da história pessoal e impessoal, da memória, do fato e do mito, da vida coletiva e da realidade individual, e sobretudo da escrita — narração — e sua relação com a vida. O livro é menos a reconstrução da vida da mãe e mais uma coleta de provas, pela qual aquilo que é particular e subjetivo passa a ser público e passível de responsabilização. Isso exigiu uma análise cuidadosa da sua família estendida — um formidável clã tradicionalmente francês de tias, tios e avós — e, logo, da própria cultura familiar. O livro que resulta disso é uma investigação da “realidade” na qual uma criança nasce, um espaço tiranizado por estruturas de autoridade e códigos sociais, nos quais o que é pessoal está fatalmente ligado ao que é chancelado e comunitário, a fim de criar um teatro de relações sanguíneas.
“Escrever sobre a sua família”, escreve Delphine de Vigan, “é sem dúvida a maneira mais certeira de romper com ela.” Ao longo da narrativa, ela segue aterrorizada e atormentada por seu poder de revelação, feito uma criança a quem entregam uma arma poderosa. Revela, entre outras coisas, que a mãe alegava ter sido estuprada pelo próprio pai quando era adolescente, acusação que a mãe fez por escrito aos 32 anos e enviou para todos os membros da família. Ninguém nunca mencionou aquilo: a vida seguiu normalmente, a família se encontrando para o almoço de domingo na casa de campo dos avós.
Na metade do livro, destroçada de ansiedade em relação aos segredos que está revelando, De Vigan conta um sonho no qual estão reunidos os parentes que morreram há muito tempo. “Está todo mundo lá, nada mudou: a coleção de pratos de porcelana na parede, os cestos de pão espalhados aqui e ali pela mesa, o cheiro de cordeiro assado no ar.” Quando a comida é servida cai um silêncio repentino, e a avó morta se vira para ela, “com aquela expressão cheia de tristeza e desapontamento que às vezes altera o seu olhar, sem hostilidade. ‘Não é legal isso que você está fazendo, querida, não é legal’”.
Rien ne s’oppose à la nuit foi publicado na França e aclamado, vendendo 1 milhão de exemplares e vencendo vários prêmios. Nesse país que ama a literatura, Delphine de Vigan se tornou uma espécie de rockstar, ainda que as intenções do livro de certa forma desafiassem ou abalassem os princípios dessa cultura e a história que ela contava sobre si mesma. Entre outras coisas, o que De Vigan — e a poderosa resposta do público — evidenciavam era o preço pessoal a ser pago por viver naquele país notável, lindo, mas patriarcal. O livro dela é sobre a história de uma garota, a sua própria infância de menina, assim como a de sua mãe, porém ela descobre que não existe um modelo. A dor da mãe “fez parte da nossa infância e, depois, da nossa vida de adultos”, ela escreve. “Não há dúvidas de que a dor dela está em nós, na minha irmã e em mim. No entanto, qualquer tentativa de explicação está fadada ao fracasso. Preciso, assim, me contentar com uma escrita feita de migalhas, fragmentos, hipóteses.”
•
Depois que Annie Ernaux ganhou o prêmio Nobel, recebi um telefonema: fui convidada para participar do La Grande Librairie [A grande livraria], para falar sobre a obra dela. Sempre ouvi falar do La Grande Librairie, programa semanal de televisão sobre livros com uma hora e meia de duração, como o símbolo da relação excepcional da França com a cultura literária. Uma vez por semana, o país ia para a frente da tv assistir a entrevistas e debates, sem efeitos especiais, com os escritores do momento. O prestígio e as vendas desses escritores aumentam consideravelmente quando eles aparecem no La Grande Librairie — esse convite é uma das honrarias mais ardentemente desejadas pelos escritores contemporâneos franceses. Era pouco comum, segundo me disseram, que um autor estrangeiro ou que não falasse francês fosse convidado; a necessidade de traduzir tornava as coisas lentas demais.

Annie Ernaux no programa francês La Grande Librairie, em 19 de outubro de 2022 [Reprodução]
Por telefone, expliquei que o meu francês não era suficientemente bom para aceitar o convite. Silêncio do outro lado — obviamente ninguém recusava um convite desses; não era possível. O que não era possível, continuei, era eu falar francês na tv aberta quando ainda era capaz de cometer erros básicos ao pedir uma baguete na boulangerie. Me explicaram que eu não apenas faria isso, mas que o faria muito bem. Prepararam uma edição especial do programa para Annie Ernaux: a própria autora estaria lá. A minha presença seria uma ótima surpresa para ela e, além disso, precisavam de alguém para dar um ponto de vista internacional.
O orgulho nacional quase histérico que se podia prever diante da honraria do Nobel tinha sido acompanhado, ao que parecia, de certa autocrítica. Havia um sentimento geral de que, por alguma razão, Annie Ernaux não tinha sido devidamente valorizada, de que não se fazia justiça a ela em seu próprio país. Apesar da veneração francesa à literatura, foi preciso que olhos não franceses reconhecessem o verdadeiro valor de Ernaux. O mundo anglófono, por exemplo, tinha há tempos entendido a importância dela — aparentemente, era como testemunha dessa noção discutível que fui convidada para participar da edição especial do La Grande Librairie.
Sua solidão e seu alheamento pareciam coisas que carregava consigo aonde quer que fosse
Fui me aconselhar com Delphine de Vigan, mas ela também parecia estar naquela outra realidade, na qual eu poderia discutir questões literárias em francês diante de um público de 1 milhão de espectadores. Você vai se sair bem, disse. Ela se ofereceu para me ajudar a praticar. Depois sentamos para conversar sobre escrever, sobre o bloqueio criativo e o terror que por vezes nos acomete diante da ideia de ter que escrever outro livro, como se isso fosse uma obrigação horrível. Será que voltaríamos a escrever se tivéssemos condições de não fazê-lo? Me parecia que, para nós duas, era a associação da escrita com a possibilidade de praticá-la — que durante anos legitimou uma atividade aparentemente impraticável — que agora toldava a perspectiva de exercermos
a nossa arte. Eu tinha certeza de que nenhuma de nós sentia mais alegria do que fazendo nosso trabalho, mas classificá-lo como trabalho, em vez de arte, tinha se tornado um hábito.
Depois do sucesso estrondoso de Rien ne s’oppose à la nuit, Delphine de Vigan escreveu um livro inteligente, lúgubre, de falsas memórias, intitulado Baseado em fatos reais, no qual a sua dilaceração — primeiro por ter escrito o livro sobre a mãe e depois pela fama extraordinária que ele lhe rendeu — encarna em uma mulher que ela conhece em uma festa e que lentamente entra na sua vida e quase a destrói. Hoje De Vigan conta que enquanto escrevia esse livro sentiu uma ansiedade e uma inibição paralisantes, como se um crítico-duende olhasse por cima dos seus ombros, rindo com crueldade a cada linha que ela escrevia. Ela tinha certeza de que o livro seria um fracasso e quase não o publicou. E o livro fez um enorme sucesso, e ela recebeu o prestigioso prêmio Renaudot, assim como o Goncourt des Lycéens.
Esse medo de escrever, que talvez seja menos um medo do fracasso e mais uma crença profunda e semi-inconsciente de que escrever é social e moralmente errado, me parecia ser o exato oposto da objetividade vocacional de Annie Ernaux. “É a ausência de sentido daquilo que se vive no momento em que é vivido que multiplica as possibilidades da escrita”, Ernaux escreve em Mémoire de fille. “Para explorar o abismo entre a realidade assustadora do que acontece, no momento em que acontece, e a irrealidade estranha, anos depois, do que aconteceu.”
No estúdio do La Grande Librairie, entre câmeras, fios e luzes ofuscantes, onde um clima permanente de frenesi nervoso revestia tudo feito eletricidade, Annie Ernaux estava sentada entre as outras participantes num sofá chique — pequena, imóvel, sóbria, feito uma estátua que representa a sanidade. Era diante dos olhos dessa sanidade, e não dos x milhões de franceses, que eu me consideraria julgada.
Para mim, a conversa pareceu um jogo em que a bola passa muito rápido de um participante para o outro. Conseguia entender muito pouco do que se dizia: a minha estratégia tinha sido decorar algumas frases versáteis, que recitava toda vez que a direção dos olhos dos outros indicava que a bola estava sendo passada para mim. Depois, achei que ia desmaiar. O produtor e o apresentador me parabenizaram. “Viu só?”, disseram. “A gente disse que ia dar tudo certo!”
Havia um pequeno coquetel para nós no andar de baixo, e me surpreendi ao ver Ernaux, orgulhosa e elegante, parada ali sozinha, distante das rodinhas de conversa. A solidão e o alheamento dela pareciam coisas que ela
carregava consigo aonde quer que fosse. Me aproximei e a cumprimentei, e ela tomou minha mão e a acariciou. As mãos dela eram macias e quentes. Os olhos pareciam holofotes. Ficamos ali, de mãos dadas. Eu adoraria, disse ela depois de um tempo, se em uma semana todo mundo esquecesse que isso um dia aconteceu.
•
Algumas semanas depois, Delphine de Vigan e eu fomos de carro até Cergy, onde mora Annie Ernaux. É o subúrbio que ela descreve em Os anos, o romance de 2008 que enfim levou a sua reputação para fora da França. Os anos é um livro maior e mais ambicioso que os anteriores: os acontecimentos familiares da vida de Ernaux estão presentes, mas desta vez são integrados a um contexto mais amplo de acontecimentos históricos, sociais, políticos e culturais, e sobretudo à penetração do capitalismo em cada aspecto da vida na segunda metade do século 20. Pela primeira vez, Ernaux se vê não como a aberração de Yvetot, mas como parte da onda da história, um organismo de gênero definido, formatado e movido por forças visíveis e invisíveis, forças cuja ação em torno da consciência e do destino individuais tinham sido muito mais poderosas e fundamentais do que o mito da autodeterminação e da individualidade admitiria.
Do alto, atrás da casa de Annie Ernaux, o rio Oise serpenteia vale abaixo entre bosques de árvores sem folhas. É uma casa convencional, séria, num jardim grande, em declive: a vista ampla e desimpedida para o rio é surpreendente. Nas ruelas e ruas sem saída pelas quais passamos no caminho, as casas se apertam umas contra as outras, seus limites são demarcados por muros, sebes e grades que bloqueiam o campo de visão das demais e não deixam nenhum espaço vazio. O gramado extenso e desgrenhado de Ernaux e as árvores espalhadas, abrindo-se para uma visão ampla do céu e do vale, pareciam fruto não de privilégio, mas de uma coerência moral e artística: ela mora naquela casa há quarenta anos, e nesse período o mundo preencheu todos os espaços ao redor.

Annie Ernaux em fotografia de Sophie Bassouls [via Getty Images]
Parada na frente da porta de entrada, eu tinha consciência de que estávamos em um dos locais literários dela, a casa que tinha sido o cenário da mulher que ela se tornou, ardendo de opressão, de desejo, e com o seu incansável poder da verdade. “Desde setembro do ano passado, não fiz outra coisa além de esperar por um homem”, ela escreve em Paixão simples, a história do seu caso, na meia-idade, com um diplomata casado do Leste Europeu,
que ele me telefonasse e viesse à minha casa. […] O único futuro que me aguardava era o próximo telefonema dele marcando um horário. Eu tentava sair o menos possível, salvo para os compromissos de trabalho […] sempre temendo perder uma ligação dele durante minha ausência. Também evitava usar o aspirador ou o secador de cabelo, pois poderiam me impedir de ouvir o toque do telefone. E quando ele tocava, me tomava de assalto uma esperança que, no geral, durava apenas o tempo de pegar lentamente o aparelho e dizer “alô”. Ao descobrir que não era ele eu passava a detestar a pessoa do outro lado da linha.

O jovem traz o relato da relação de Ernaux, aos quase sessenta anos, com um homem trinta anos mais novo
Ernaux foi amplamente repreendida por suas leitoras feministas por esse retrato da dependência feminina à atenção sexual masculina: o holofote clínico do seu olhar, tão revelador quando ilumina aquilo que se quer ver, se torna claramente desconfortável quando joga luz sobre as sombras. Essas mesmas leitoras depois devem ter se sentido obrigadas a parabenizá-la por O jovem, o relato da relação dela, aos quase sessenta anos, com um homem trinta anos mais novo. Ela descreve que, ao sair com esse homem mais jovem em lugares públicos, recebia o
olhar pesado e reprovador de clientes ao nosso lado […]. Olhar que, longe de me envergonhar, reforçava minha determinação de não esconder meu relacionamento com um homem ‘que poderia ser meu filho’, enquanto qualquer sujeito de cinquenta anos podia se exibir com uma moça que claramente não era sua filha sem nenhuma reprovação.
Ela abriu a porta, nos recebeu sorrindo. Por dentro, a casa estava iluminada com uma luz fria, clara. Era despojada e arrumada, mobiliada com modéstia e bom gosto com móveis antigos, e estava claro que muito pouco havia mudado aqui: a cozinha pequena e simples onde fez café para nós era uma cozinha de quarenta anos atrás. Mas a casa parecia expressar um êxito duplo: a ascensão dela desde o café—épicerie e sua resistência estoica à tentação de adulterar ou enfeitar os fatos ao seu redor. Sentamos à mesa na sala de jantar ensolarada. Ela falou sobre a iminente cerimônia do prêmio Nobel, para a qual precisaria viajar a Estocolmo. Sua maior apreensão era descer uma longa escada diante do público: aos 82, tinha medo de cair. Perguntamos se alguém não poderia acompanhá-la nessa descida, e ela imediatamente pareceu surpresa. Depois entendi que essa sugestão cheia de boa vontade era um tanto insensível: a sua autonomia, a sua inabalável independência de tudo e de todos eram, em primeiro lugar, o motivo de ela estar indo para Estocolmo.

Ernaux no vale do Oise, França, em 2000 [Sophie Bassouls/Getty Images]
Quando ela falou sobre a sua idade e o punhado de anos que imagina ter à frente, a luminosidade do seu semblante era fascinante, e fiquei impressionada com a vivacidade absoluta daquele ser e com a sua inextinguível força de investigação. A questão, ela disse, é como viver quando a vida está quase no fim. Nesse contexto, qual pode ser o sentido da vida? Alguns meses antes, ela e o filho David fizeram um documentário, Os anos Super 8, que é uma colagem de vídeos caseiros da família, filmados por Philippe, então marido dela, entre 1972 e 1981. As imagens, indelevelmente datadas, colocam o passado numa perspectiva longa e quase insuportável. Ao falar hoje sobre o filme e sobre a clareza com que ele a convoca a retornar a quem ela foi no passado como jovem esposa e mãe, ela se lembrou da vida secreta que as imagens não mostravam: a sua determinação, em meio aos resíduos e às preocupações da vida convencional em família, em registrar o seu mundo interior por escrito.
Era a reação de sua mãe ao seu primeiro livro, ela diz hoje, a única coisa que importava para ela
Ela escreveu o seu primeiro romance, Les Armoires vides [Os armários vazios], em segredo, e o enviou para uma editora em Paris, só dando como endereço a escola onde então lecionava. Nem sequer anexou uma carta de apresentação. As semanas de espera por uma resposta foram preenchidas por um entendimento grave do que havia feito. Ao falar sobre isso agora, depois de todos esses anos, ela se lembra até das datas: a data do envio do envelope, das etapas da espera — expectativa febril, seguida pela dúvida, seguida por um princípio de resignação — e do recebimento, enfim, de uma carta de aprovação. Quando recebeu a notícia, percebeu que aquilo não seria um acordo secreto com o mundo, de informações sobre a armadilha que era o seu mundo doméstico contrabandeadas num envelope — as pessoas que a conheciam, sobretudo o marido e a mãe, também o leriam. É claro que ela teve medo da reação do marido a essa traição por escrito da vida deles, mas era a reação da mãe ao livro, ela diz hoje, a única coisa que importava para ela.
A mãe tinha ido morar com eles depois da morte do pai. Levou o livro para o quarto e fechou a porta. Ernaux se lembra de ir até a porta diversas vezes durante a noite e ver, pela fresta, a luz ainda acesa. De manhã, a mãe foi tomar café e não falou nada a respeito do que tinha lido, num silêncio que indicava que ela aceitava a situação. Era extraordinário que aquela mulher severa e humilde, que viveu as mais duras limitações de uma realidade na qual quebrar os códigos sociais teria consequências catastróficas, pudesse aceitar o que a filha fazia ao remover publicamente o verniz burguês da vida da família.
Ernaux identificou a subjetividade imposta à voz feminina e fez dela a sua arma
Por mais orgulho que tivesse do êxito da filha em garantir toda a tralha de uma existência convencional de classe média com que ela nunca tinha sonhado, diz Ernaux, a mãe tinha mais orgulho ainda do fato de ela escrever. No passado, queimou diários e cadernos de Ernaux ao encontrá-los, sem dúvida pelo terror que sentiu diante do que o conteúdo deles significaria para o futuro da filha. Mas enxergava legitimidade na aceitação oficial por uma editora.

A escritora recebe o Prêmio Nobel de literatura em Estocolmo (Suécia), em dezembro de 2022 [Christine Olsson/Getty Images]
No silêncio tranquilo e iluminado da sala de jantar de Ernaux, eu me surpreendi com a força e o significado dessa história, o poder que a aceitação de uma mãe conferia a uma artista mulher, armando-a contra o mundo todo. Depois de mais ou menos uma hora, fomos embora. No carro, a caminho de casa, De Vigan e eu falamos sobre a aura palpável e veemente que emana de Ernaux e da casa dela, a aura de uma autonomia inquebrável e radiante. Concordamos que é raro encontrar alguém com tal força. Delphine de Vigan se perguntava se o que a fortaleceu foi ter sobrevivido, ao longo dos anos, aos ataques ao seu trabalho e à sua pessoa — começando, na minha cabeça, com o desprezo do marido, que, diferente da mãe, não conseguiu superar o constrangimento pelo manuscrito. Discordei: na minha opinião, isso era fruto do amor. Desde o início, os pais dela acreditaram, intensa e apaixonadamente, que ela era a coisa mais importante do mundo. O fato de eles serem proprietários de uma lojinha de esquina no interior não fazia a menor diferença.
Isso é algo que nenhuma de nós teve, eu disse, esse amor inquebrável, o amor materno que abarca até mesmo o perdão da traição que é escrever. De Vigan disse que sua mãe fez o melhor que pôde para apoiar seu trabalho, mas ficou muito magoada e envergonhada pelo retrato da mãe em Jours sans faim. Esse é o motivo, suponho, pelo qual lutamos para conter o esfacelamento das nossas energias criativas em torno da verdade pessoal, esse medo elementar da reprovação, da rejeição, do abandono — a sugestão da avó de que aquilo que estamos fazendo não é muito legal.
•
Me disseram que o veneno dirigido a Annie Ernaux nas redes sociais depois que ela venceu o Nobel tinha se tornado tão incontrolável que virou assunto de um editorial na revista semanal francesa L’Obs. Quando reencontrei De Vigan, ela estava perplexa e chateada com tanto ódio — de onde vinha aquilo, e por quê? Confessou ter demorado a identificar o problema crescente da misoginia no mundo de hoje — assim como eu, ela é de uma geração que cresceu acreditando que o feminismo já tinha acontecido de alguma forma, e que os conceitos de justiça social e igualdade progrediam do mesmo jeito que a evolução da ciência e da tecnologia. No entanto, parece que neste nosso tempo descobrimos novas formas de ódio, e talvez a crença na ilusão do progresso esteja na origem disso. A misoginia, o mais antigo dos ódios, brinca de gato e rato com essa ilusão a cada geração, a ponto de podermos dizer que a experiência da misoginia, pública e privada, se tornou um estado subjetivo. Se ainda é difícil que as mulheres façam arte sobre a sua própria vida é porque a feminilidade ainda não tem um lugar garantido na cultura. Ernaux identificou a subjetividade imposta à voz feminina e fez dela a sua arma, de certa maneira. O seu mecanismo de sinceridade é altamente confiável — mas a sinceridade, como outros talentos, não é algo que a geração seguinte possa herdar.
Nos dias seguintes, pensei muito em Annie Ernaux em Estocolmo, descendo a escada sozinha. O corpo dela, que tem sido tanto aquilo que a contém quanto o seu tema, que tem sido a base frágil e mortal do seu império, avançando pelo espaço vazio. (Tradução de Mariana Delfini)
Nota do editor: Os trechos citados de Paixão simples e O jovem foram retirados das edições brasileiras, traduzidas por Marília Garcia. No Brasil, os livros de Annie Ernaux são publicados pela Fósforo e o livro de Delphine de Vigan pela Intrínseca.
Um minutinho da sua atenção
A Quatro Cinco Um é uma publicação independente e sem fins lucrativos dedicada a ajudar a levar o livro para o centro do debate, por meio de uma cobertura profissional do mercado de livros brasileiro, remunerando dignamente todos os profissionais envolvidos na produção. Nossa maior fonte de receitas são as assinaturas de leitores como você, que apoiam as nossas atividades. Muitos dos nossos assinantes chegam a nos mandar uma força extra, por meio dos planos Entusiasta, pagando mais só para nos ajudar.
Contribua, entre para a nossa comunidade de leitores e conheça o nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 40% em livros e outros produtos culturais.
Matéria publicada na edição impressa #71 em julho de 2023.