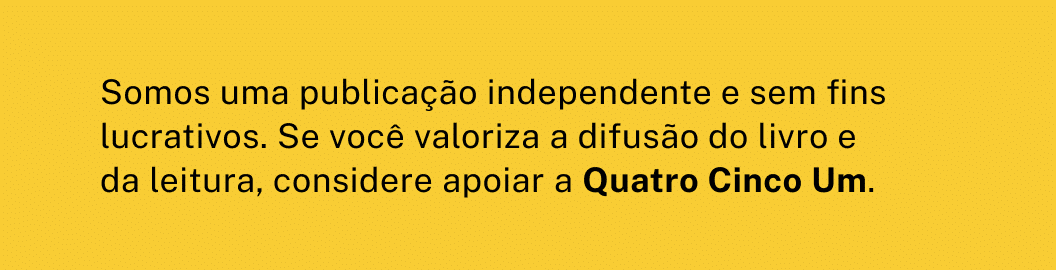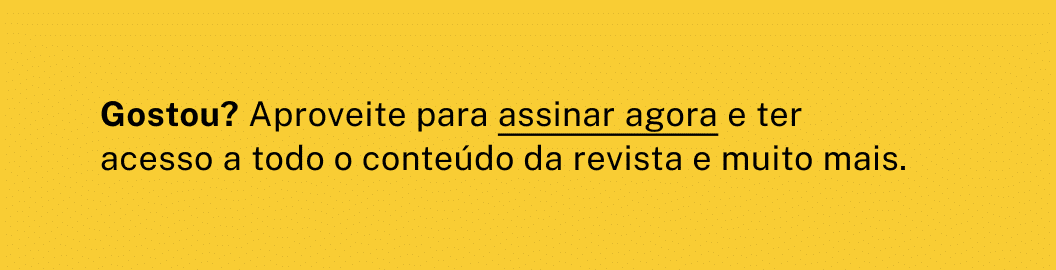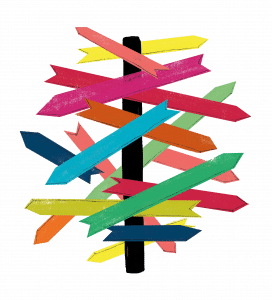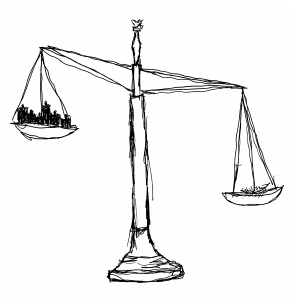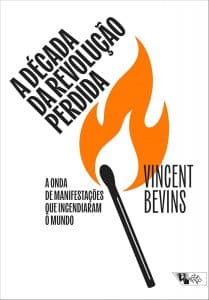

Laut, Liberdade e Autoritarismo,
As revoluções perdidas
Vincent Bevins analisa as razões de tantos protestos na década passada terminarem com resultados quase sempre opostos ao que pretendiam
10abr2025No auge das manifestações de junho de 2013, enquanto trabalhava no Brasil como repórter correspondente do jornal Los Angeles Times, o norte-americano Vincent Bevins cobria os atos e escutou a multidão ao seu lado cantar da praça da República, no centro de São Paulo: “O amor acabou. A Turquia é aqui!”. Naquele mesmo mês, partindo da capital Istambul e rapidamente alcançando todo o país, milhares de turcos saíram às ruas por semanas contestando a legitimidade do seu governo — e sofrendo forte repressão, que era denunciada nas redes sociais para convocação de novos protestos.
Em A década da revolução perdida: a onda de manifestações que incendiaram o mundo, o jornalista conta sua experiência no Brasil e usa o país como fio condutor, mas trata do que se passou na Turquia, no Chile, na Ucrânia, na Tunísia, no Egito, na Coreia do Sul, em Hong Kong, no Iêmem e no Bahrein, com incríveis semelhanças. Entre 2010 e 2020, o número de pessoas em protestos nas ruas foi maior do que em qualquer outro momento da história, ainda que quase nenhum dos efeitos produzidos tenham sido os desejados pelos manifestantes.
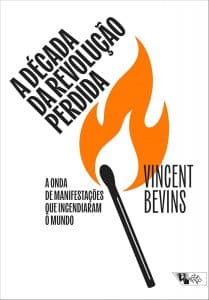
Com uma extensa pesquisa, mais de duzentas entrevistas, depoimentos e análises de alguns dos principais intérpretes locais das regiões que retrata, como o sociólogo ucraniano Volodymyr Ishchenko e o filósofo brasileiro Rodrigo Nunes, o livro se soma às obras interpretativas de Junho de 2013 numa perspectiva internacional comparada.
Em entrevista à Quatro Cinco Um, Bevins analisa o saldo da década de manifestações de massa, que levou intelectuais e ativistas do mais alto otimismo a um pessimismo catastrófico em relação às possibilidades emancipadoras tanto da política quanto da internet.
Como chegou à definição do objeto do seu livro?
Tentei contar a história de ciclos de protestos em massa que se tornaram grandes a ponto de se transformar em outra coisa. Trato de treze países, mas ao longo do livro chego à conclusão de que três desses casos diferem dos demais, pelo resultado que tiveram, que são o Occupy Wall Street nos Estados Unidos, o 15M na Espanha e os protestos na Grécia entre 2010 e 2012.
Entre 2010 e 2020, o número de pessoas em protestos nas ruas foi o maior da história
Agora, o que os treze episódios têm em comum? Todos compartilham uma forma tática e organizacional específica: protestos de massa aparentemente espontâneos, sem líderes, coordenados digitalmente e estruturados horizontalmente em praças ou espaços públicos.
Mais Lidas
Comparado a outros momentos da história de múltiplas manifestações concomitantes, o que há de inédito nos protestos dos anos 2010?
Uma questão importante é a velocidade com que os movimentos podiam ser inspirados por outros. Por exemplo, em 1848 ocorre a primeira “primavera”: uma disseminação relativamente rápida de revoltas revolucionárias pela Europa. Isso acontece por causa de uma tecnologia que desempenhava um papel cada vez maior no continente: o jornal. O que acontece nos anos 2010 são essencialmente repercussões imediatas. A velocidade com que tudo ocorreu foi tão acelerada diante de 1848 ou 1968 que gerou um tipo de episódio diferente.
Mas essa inspiração não significa motivação, certo?
Sua pergunta é muito boa porque exige que sigamos a ordem cronológica — o que acho necessário — no caso de 2013. Certamente, o Movimento Passe Livre (MPL) não organizou protestos contra o aumento da tarifa de ônibus por causa da Primavera Árabe (2010-12) ou do Occupy Wall Street (2011). Eles já faziam protestos consistentemente desde 2005.
No prefácio da edição em português, você escreve que “uma das lições difíceis do livro é que uma revolução não é realmente necessária para que os reacionários das elites lancem uma contrarrevolução”. A cooptação das pautas das ruas é inédita?
Se olharmos para o histórico dessa forma de contestação, que chamamos de “novos movimentos sociais”, é muito fácil lembrar de casos em que nada acontece como resultado. O que é muito estranho na década de 2010 é que algo de fato acontece. Em quase todos os casos que observo há um momento de sensação eufórica de vitória, de que “está tudo acontecendo” e, embora não seja como esperado, as coisas não voltam a ser como eram antes. O cenário muda, como resultado dos protestos, mas em geral [as mudanças] não têm nada a ver com as razões dessas manifestações.
No Brasil, as interpretações do Junho de 2013 ainda provocam discussões. É possível ligar os acontecimentos de doze anos atrás ao crescimento da extrema direita?
No caso do Brasil, costumo dizer que o que existe são várias linhas indiretas entre Junho de 2013 e a vitória de Bolsonaro em 2018. Há muitas maneiras de traçar essas linhas, mas também há muitas reviravoltas que não eram necessárias. Concretamente, a nova direita adotou muitos dos slogans que surgiram nas ruas em junho de 2013, como “Vem pra Rua”, o princípio de antipartidarismo e o próprio nome do MBL (Movimento Brasil Livre) emulando o MPL. Mas ninguém forçou o psdb a apoiar o impeachment e foi isso que realmente abriu as portas para Bolsonaro.
Comparando Chile e Brasil, o que distingue o “fracasso” das manifestações em cada país?
O movimento no Chile tem a sorte de em 2019 — quando essa explosão acontece — ter no governo a centro-direita. Podemos dizer desta forma: a esquerda brasileira fracassa ao passar a liderança do PT para uma geração mais jovem. No Chile, a esquerda passa a liderança para uma geração mais jovem, mas essa geração fracassa imediatamente, não consegue cumprir a promessa de uma Constituição que substituirá a de Pinochet, ou mesmo alguns dos sonhos mais moderados do estallido de 2019 [como ficou conhecida a série de distúrbios iniciados em Santiago contra os governantes].
Você narra desde o início as manifestações de 2013 na Ucrânia que ficaram conhecidas como Euromaidan, pedindo mais integração com a Europa ocidental. A invasão da Rússia em 2022 tem uma ligação direta?
No caso da Ucrânia é uma linha direta. Essa guerra horrível que ainda estamos vivendo começou em 2014 e foi uma resposta ao Euromaidan. Não precisava ter acontecido exatamente dessa forma, claro, mas a causalidade é muito mais clara.
Como assim?
Assim como no Brasil, você tem uma repressão que choca o país porque é direcionada a partes privilegiadas da sociedade. No entanto, na medida que muito mais pessoas vão às ruas, há entendimentos difusos e, às vezes, contraditórios sobre o sentido dos protestos. Nesse momento, integrantes da esquerda tentam apresentar interpretações antineoliberais do que significa a Europa. No fim, o que acontece é que você tem essa enorme massa de energia na praça, mas o presidente não renuncia, porque não precisa.
À medida que a extrema direita começa a desempenhar um papel maior, porque eles são bons em violência coordenada, o presidente [Viktor] Yanukovych é forçado a deixar o cargo. E então você tem uma transição cuja legitimidade é questionada por um grande número de ucranianos. É aí que operam os militantes russos infiltrados, que levam à guerra civil. Ou seja, os protestos levam à derrubada de um governo, que leva a um movimento de contraprotesto, que se torna uma guerra civil, que se transforma em um conflito por procuração e culmina nessa guerra que está matando pessoas neste momento.
É significativo que em 2024, com seu livro publicado, a virada política de expoentes do Vale do Silício, como Jeff Bezos, Elon Musk e Mark Zuckerberg seja tão evidente. Como isso afetou o papel das redes sociais?
Podemos ver os anos 2010, a “década da revolução perdida”, como a década em que perdemos a internet. Meu livro é bastante millenial, no sentido que é sobre pessoas que hoje têm entre trinta e 45 anos. Todos nós entendíamos como axiomático que o aumento do acesso à informação e a essas tecnologias tornariam o mundo melhor, mais democrático, transparente e livre.
Nosso sonho do que a internet poderia ser se chocou com a realidade do poder oligárquico dos Estados Unidos, a década em que o tecno-otimismo se transformou em tecnopessimismo. Em 2024, essa realidade se torna óbvia. Os oligarcas saíram do armário e disseram: “Somos oligarcas, temos orgulho disso. Vamos usar nosso poder para promover nossos projetos políticos e esperamos ser recompensados por isso”.
‘No Brasil, a nova direita adotou muitos dos slogans que surgiram nas ruas em junho de 2013’
Há um ensaio famoso, da feminista Jo Freeman, que argumenta que, quando você insiste na falta de estrutura, fica fácil para alguém impor a você uma estrutura que você não escolheu. Essa horizontalidade [dos atos] é muito vulnerável. E esse é o tema do livro: você tem momentos de verdadeira horizontalidade, mas, no fim, há a imposição da ordem por algum ator externo, de um resultado final que as próprias ruas nunca teriam escolhido. Acho que algo semelhante aconteceu com a internet: captura, distorção e perversão por elites oportunistas e cínicas.
Um dos títulos lançado nos dez anos de Junho de 2013, A razão dos centavos, de Roberto Andrés, é muito enfático em demonstrar como o tema do Passe Livre cresceu desde então. Isso não é o mais importante?
Os integrantes do MPL não só tinham uma demanda, como fizeram o trabalho de se tornarem especialistas em políticas de transporte para deixar claro o que poderia ser feito.
Há aquela famosa entrevista no Roda Viva [da TV cultura] em que dois jovens membros do movimento impressionaram os jornalistas porque realmente haviam estudado a questão. Os acontecimentos de 2013 colocaram a política do Passe Livre na consciência pública de uma forma que nunca teria acontecido sem eles? Acho que sim.
Se pensarmos que tudo vale a pena, tudo é tolerável para a mensagem sobre o Passe Livre, Junho de 2013 fez isso, para o bem ou para o mal. Todo mundo no Brasil já ouviu falar dessa política e, se e quando for implementada no país, as pessoas vão olhar para trás e ver o momento em que entrou na discussão pública. A questão é se foi o momento certo, da maneira certa, para passar a palavra sobre o Passe Livre.
Editoria especial em parceria com o Laut
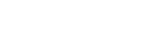
O LAUT – Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo realiza desde 2020, em parceria com a Quatro Cinco Um, uma cobertura especial de livros sobre ameaças à democracia e aos direitos humanos.
Porque você leu Laut | Liberdade e Autoritarismo
Pesadelo americano
Com retrato empático da base popular da direita nos EUA, socióloga Arlie Hochschild traduz a economia política e moral da era Trump
ABRIL, 2025