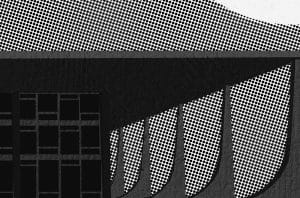Laut, Liberdade e Autoritarismo,
Quem cala consente
Livro aponta como o peso do silêncio na sociedade brasileira agrava a letalidade da Covid-19 nas prisões
01dez2020 | Edição #40 dez.2020As prisões são o repositório de sentimentos sociais muito perversos. O sentido moderno de prisão não tem quase nada a ver com ressocialização ou responsabilização; é apenas um ato de força, que tem pouco significado em termos educativos e que cumpre politicamente papéis de neutralização de pessoas, de estigmatização de grupos e de imposição desigual de dor e sofrimento. Em sociedades como a nossa, marcadas pelo legado colonial e pelo racismo, a utilização das prisões como centro do controle punitivo torna-se ainda mais complexa, pois a prisão passa a ser um símbolo de atualização da experiência de escravização. Como escreve Angela Davis em Estarão as prisões obsoletas? (Difel, 2017), o encarceramento entre nós está associado à racialização.
Em seu novo livro, Prisões: espelhos de nós, Juliana Borges, consultora do Núcleo de Enfrentamento, Monitoramento e Memória de Combate à Violência da OAB-SP e autora de Encarceramento em massa (Pólen, 2019), aponta a tragédia do sistema prisional brasileiro ao localizar o impacto letal da pandemia sobre as pessoas privadas de liberdade e interrogar, a partir de diferentes perspectivas do pensamento negro contemporâneo, o quanto o contexto prisional informa sobre o Brasil e suas históricas e brutais desigualdades e violências. Esse ensaio fluido e envolvente, organizado em cinco capítulos, aborda os debates sobre racismo, prisão e políticas criminais alternativas com base em uma perspectiva abolicionista penal, e não punitivista. Na obra, são interrogados os fundamentos da racionalidade punitiva propondo outros pontos de vista acerca dos processos de criminalização e desafiando o leitor a refletir sobre o peso do silêncio nas relações sociais, o mito da não violência da sociedade brasileira e o significado do racismo e o do sexismo na formação histórica e cultural do país.
Para Juliana Borges, o silêncio ultrapassa o sentido de apenas “não falar” diante de uma realidade ou de um estado de coisas, mas também funciona como meio de subtrair ao Outro o protagonismo e de autorizar a neutralização como fim último das práticas de controle penal e de privação de liberdade. É o silêncio que, segundo ela, fundamenta mitos, autoriza políticas de morte e serve como negação diante do que nos assusta, porque pode falar muito sobre nós.
Mito da não violência
Grande da parte da tradição sociológica brasileira validou a ideia do Brasil como paraíso das raças, onde após a abolição não havia fomento legal a práticas de segregação racial — nesse contexto, a luta contra o racismo não passaria de um esforço para superar o passado e eliminar de vez os subprodutos da desigualdade de classe. Tal interpretação não passa de um mito, pois deixa escapar dimensões reais da desigualdade de poder que organizam a nossa sociedade e não considera, no plano simbólico, a profundidade das imagens do racismo como escolhas políticas produzidas ao longo da trajetória brasileira. “Somos uma das nações mais violentas do mundo”, destaca Juliana Borges ao apresentar os dados da violência no país. Essa brutal e perversa desigualdade, traduzida em violência voltada para grupos historicamente excluídos, revela o peso do racismo e do sexismo sobre nossa formação social. E, mais do que ser um mero sistema de exclusão, explica a violência referida a “um fenômeno multidimensional, fundacional do país, que perpassa as dimensões físicas, morais, psíquicas e simbólicas em práticas discriminatórias variadas, além de estar enraizada como meio e como linguagem”.
Estamos fazendo das prisões uma política pública de produção sistemática de mortes
Tal aspecto é ressaltado ao se sustentar a tese de que o racismo e o sexismo informam nossas percepções sobre quem somos nós e quem são os Outros na sociedade brasileira, mostrando que as prisões funcionam como espelhos da sociedade ao revelarem opções políticas, realidades sociais e dilemas éticos de várias naturezas. Nesse sentido, Juliana Borges aciona o debate sobre o sentido psicanalítico de recusa para afirmar que “fazemos o Outro o monstro” (resgatando as contribuições de Frantz Fanon e de Grada Kilomba), elaborando processos de desumanização que autorizam o uso social e político da violência não só como forma de resolução final de conflitos, mas também como linguagem, método e ethos social.
O ponto central do trabalho de Borges desvela o caráter estruturalmente violento e autoritário da sociedade brasileira e mostra a prisão como meio de executar essa vocação autoritária que tem na desumanização do Outro seu significado social mais relevante. Na medida em que se afirma retoricamente como uma sociedade não violenta, o Brasil constrói, no plano discursivo, um salvo-conduto para seguir sendo uma nação injusta, violenta e assustadoramente desigual.
Mais Lidas
No país, o sistema prisional vive em situação de crise estrutural com permanente quadro de violação de direitos humanos, superlotação e maus-tratos. De acordo com relatórios acolhidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o cotidiano das prisões brasileiras é marcado por “torturas, homicídios, violência sexual, celas imundas e insalubres, proliferação de doenças infectocontagiosas, comida imprestável, falta de água potável e de produtos higiênicos básicos”. Essa situação se agrava na pandemia, quando o risco de letalidade entre as pessoas privadas de liberdade se amplia em níveis exponenciais, tendo em vista a pequena assistência em saúde nos estabelecimentos prisionais e o quadro de insalubridade dessas unidades. Tal aspecto é também tratado no livro a partir da caracterização das prisões como “máscaras contemporâneas” que não apenas são invisibilizadas como fonte de violação de direitos, mas que, sobretudo, não são questionadas quanto ao seu papel na sociedade, transformando-se num eficaz instrumento da política de morte que tem nos negros seu alvo preferencial.
O livro conduz à constatação de que estamos fazendo das prisões uma política pública de maximização do controle e de produção sistemática de mortes, de modo que a indiferença e a desumanização se transformam em máscaras que permitem a continuidade da programação de extermínio e mantêm o silêncio que paralisa, neutraliza e embrutece. O grito, portanto, é apontado pela autora como saída libertadora para assumir o risco de “ser o elefante em uma sala cheia de cristais e não ter medo de derrubar todos eles”. Estaríamos nós dispostos a encarar esse desafio ético tão desconfortável e provocador? Esse livro leva muito a sério essa significativa pergunta.
Editoria especial em parceria com o Laut

O LAUT – Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo realiza desde 2020, em parceria com a Quatro Cinco Um, uma cobertura especial de livros sobre ameaças à democracia e aos direitos humanos.
Matéria publicada na edição impressa #40 dez.2020 em novembro de 2020.
Porque você leu Laut | Liberdade e Autoritarismo
Desradicalizar e democratizar
É preciso entender e enfrentar o crescente extremismo político no país para proteger a democracia brasileira
MAIO, 2024