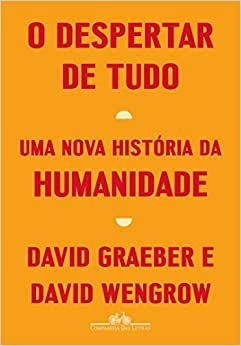Desigualdades,
Novas histórias da humanidade
Livro desmonta os pressupostos da grande narrativa ocidental sobre a emergência da sociedade capitalista e patriarcal
01fev2023 | Edição #66O despertar de tudo: uma nova história da humanidade, do arqueólogo David Wengrow e do antropólogo David Graeber, foi publicado em outubro de 2021, logo após a morte de Graeber. Um ano depois, o livro já é um best-seller internacional, traduzido para vários idiomas — feito impressionante para uma obra de quase setecentas páginas escrita por dois acadêmicos. É verdade que Graeber se tornara um intelectual público muito relevante na última década, e parte do interesse pelo trabalho passa por sua fama. Contudo, isso não explica seu sucesso: O despertar de tudo precisa ser discutido à luz do ambiente intelectual das primeiras décadas do século 21.

O despertar de tudo: uma nova história da humanidade, do arqueólogo David Wengrow e do antropólogo David Graeber, foi publicado em outubro de 2021, logo após a morte de Graeber
Entre os anos 1980 e o início dos anos 2000, a produção de grandes narrativas (aquilo que em teoria da história é chamado de “macronarrativas”) sobre a “história universal” parecia condenada ao desaparecimento. Criticava-se o pretenso universalismo dessas histórias como uma visão parcial e europeia sobre o que havia sido a trajetória humana. Outras regiões do mundo apareciam à medida em que eram “descobertas” pelos europeus ou interagiam com eles. As ideias centrais que estruturavam essas histórias se baseavam em uma hierarquia na qual os europeus estavam no topo da evolução social e cultural. Parte dos críticos ao eurocentrismo advogavam por uma escrita mais plural da história. No lugar de uma história da humanidade, deveriam entrar histórias particulares, específicas, locais.
Desde os anos 90, especialistas em diferentes áreas do conhecimento, como Francis Fukuyama, Jared Diamond, Steven Pinker e Ian Morris, continuaram escrevendo “história universal”. Ainda que menosprezados por parte do meio acadêmico, essas obras se voltaram para o grande público. O triunfo de vendas desses livros, como Sapiens, de Yuval Noah Harari, mostrava que o interesse por histórias universais permanecia vivo no público não especialista. Algumas dessas obras tentaram responder aos desafios postos pela crítica às narrativas tradicionais, mas advinham de um mesmo espectro político, um certo cosmopolitismo liberal-conservador que não rompia verdadeiramente com o triunfalismo ocidental que estrutura o eurocentrismo, e por isso permaneciam neoevolucionistas.
A nova história da humanidade de Graeber e Wengrow parte de uma inspiração anarquista
Graeber e Wengrow intervêm nesse debate, mas sua “nova história da humanidade” parte de uma inspiração anarquista. Foi isso que permitiu aos autores darem respostas mais precisas às críticas da macronarrativa universal do progresso, rompendo intelectualmente com as estruturas eurocêntricas daquelas grandes narrativas.
A narrativa neoevolucionista
Segundo a macronarrativa neoevolucionista, a jornada humana seria marcada pelo progresso demográfico, tecnológico e civilizacional. Nossa jornada teria se iniciado em pequenos bandos mais ou menos igualitários de caçadores-coletores, caracterizados no máximo pela divisão sexual do trabalho e a submissão feminina. Na transição do Paleolítico para o Neolítico, a invenção da agricultura teria permitido que certo limiar demográfico fosse ultrapassado, causando o surgimento da complexidade na sociedade e de suas instituições: a propriedade privada, a hierarquia social e o Estado. Em um mesmo movimento histórico, teríamos saído de um estado inicial de natureza marcado pela igualdade (na versão inspirada por Rousseau sobre as origens da desigualdade) ou pela brutalidade (nas versões inspiradas por Hobbes sobre as origens da soberania). A consequência desse movimento teria sido o surgimento da “vida civilizada”, sob o jugo de um Estado, com algum tipo de hierarquia social, que incluiria a dominação sobre as mulheres. Nesta história, o desenvolvimento da civilização é um pacote fechado e um caminho sem volta.
Para os autores, a permanência dessa macronarrativa se dá por contar uma história que termina inevitavelmente na sociedade capitalista e patriarcal, auge da nossa trajetória. Assim, a desigualdade é justificada e sua extinção se torna impossível. Entendendo que o surgimento da desigualdade era o ponto zero das narrativas tradicionais da história, Graeber e Wengrow estruturaram o livro para demonstrar que tais macronarrativas não têm sustentação científica e que a busca pelo ponto zero é falaciosa.
Mais Lidas
Pesquisas recentes têm desmontado todos os pressupostos da narrativa etapista do progresso civilizacional: a submissão feminina está longe de ser um dado natural; as sociedades de caçadores-coletores não se organizavam necessariamente em pequenos bandos; o sedentarismo surgiu antes da agricultura; esta não levou necessariamente à desigualdade e ao Estado; este não foi uma consequência imediata da vida urbana. Inúmeros exemplos de cada uma dessas descobertas são apresentados na obra. A despeito dessas descobertas, as narrativas neoevolucionistas ainda predominam nas obras de síntese, mostrando que é necessária uma ampla reformulação das ferramentas conceituais para pensar a história da humanidade.
O despertar de tudo tem na crítica indígena à modernidade europeia o seu ponto de partida. O segundo capítulo faz um estudo dos mais interessantes e polêmicos: Graeber e Wengrow propõem que as noções de liberdade e igualdade teriam surgido no pensamento político europeu a partir do contato e do diálogo com a crítica nativa norte-americana à sociedade europeia. Aplicando adequadamente os métodos da história cultural, contextualizam diferentes documentos no ambiente intelectual da Europa das luzes para revelar tal crítica indígena.
Liberdade e igualdade
Somos apresentados a Kondiaronk, um estadista-filósofo da etnia wendat do século 17, que expõe a conexão entre debate racional, liberdade pessoal e recusa da arbitrariedade do poder como pontos centrais de sua crítica à sociedade europeia. Graeber e Wengrow mostram como a perspectiva evolucionista teria surgido como uma resposta dos europeus a essas formulações, para justificar a hierarquização social como consequência do desenvolvimento econômico e tecnológico.
Reveladas as bases da narrativa tradicional, os autores passam ao seu desmonte empírico e teórico. As etapas da macronarrativa neoevolucionista são revistas, mobilizando conceitos, teorias e estudos empíricos para mostrar a necessidade de uma nova história da humanidade. O Paleolítico revela que não há uma forma “original” e “simples” da sociedade humana. No sentido oposto às leituras hegemônicas, que tratam os nossos antepassados distantes como selvagens ou ingênuos, os seres humanos daqueles tempos são retratados aqui como capazes de pensar e explorar outros tipos de organização social.
Graeber e Wengrow atacam o conceito de “revolução agrícola”. Estudos recentes comprovam que a agricultura não surgiu como uma forma de superar um “estágio caçador-coletor”: a domesticação se desenvolve como parte de uma estratégia de construção de portfólios diversificados de fontes de nutrientes e outros recursos, que incluíam formas sofisticadas de relação com o ambiente, dentro das quais os cultivos surgiram gradualmente. Mostram ainda a existência de sociedades matriarcais e como a submissão das mulheres não é um resultado inexorável da vida “civilizada”.
Os autores também atacam outro termo central da narrativa das etapas da história humana: a “revolução urbana”, ideia cunhada por V. Gordon Childe para definir a relação intrínseca entre a emergência do urbanismo e o surgimento do Estado. Eles exploram uma série de exemplos para mostrar que as cidades são muito mais antigas que os Estados, com diversas formas de organização política. Eles discutem o conceito de Estado e mostram por que o debate tradicional sobre seu surgimento deve ser abandonado. Para Wengrow e Graeber, a principal dificuldade dos modelos explicativos sobre a origem do Estado é se livrar de uma visão teleológica da história, que busca encontrar as sombras do Estado moderno nas formas de organização política do passado. No último capítulo, eles retornam à discussão sobre a formulação do pensamento europeu e a reação à crítica indígena. Sua conclusão destaca que complexidade não significa necessariamente o estabelecimento de hierarquias e de formas de dominação, desde o âmbito familiar da submissão feminina até o poder do Estado.
Uma nova macronarrativa
Essa síntese não faz jus ao que os autores realizam ao longo de quase setecentas páginas. A quantidade de estudos teóricos e pesquisas arqueológicas, etnográficas e históricas mobilizadas na obra é impressionante. No entanto, é curioso notar como os autores não renunciam por completo à macronarrativa mais tradicional. Eixos conceituais da sua metanarrativa, como cismogênese, dualidade sazonal, estruturas de dominação e de autonomia são explorados seguindo os marcos tradicionais das sociedades de caçadores e coletores, passando pela origem da agricultura até chegar às cidades e aos Estados. Essa é uma manobra narrativa que facilita sua crítica demolidora, mostrando passo a passo todas as falhas da história tradicional. Porém, dificulta a proposição explícita de uma macronarrativa que reorganize radicalmente a trajetória humana. Pelo contrário, parte importante do argumento é que os seres humanos perderam, em dado momento, a capacidade de reinventar sua organização social, o que poderia ser criticamente enquadrado, usando os seus próprios termos, como mais um retorno a Rousseau.
Sua maior contribuição, contudo, é a proposição de uma outra metanarrativa que estruture uma “nova história da humanidade”. O grande alvo da obra é a ideia tradicional de progresso, segundo a qual as sociedades começam pequenas, simples e igualitárias, e vão, com o tempo, tornando-se complexas, com desigualdade e Estados. A alternativa de O despertar de tudo é radical: ao invés de opor simplicidade (passado) e complexidade (presente), os autores situam a tensão entre dominação e liberdade no coração do movimento da história. As sociedades humanas imaginam continuamente organizações sociais alternando entre formas mais hierárquicas e heterárquicas/igualitárias, e combinando estratégias de dominação e resistência. Não há um passado igualitário oposto a um presente hierárquico: há a articulação dos dois extremos ou diferenciação radical em todos os períodos e em todas as regiões.
Vale ressaltar que, com essa metanarrativa da tensão dominação-liberdade, os autores deslocam, e mesmo ignoram, a oposição tradicional na teoria social entre estrutura e agência. Ao longo do livro, estruturas e agências se constituem mutuamente. Assim como há estruturas de dominação, também há estruturas de liberdade, como a fuga (para uma sociedade oposta) e a desobediência (violenta ou ritual). A metanarrativa da tensão entre dominação e liberdade, ao se desvincular da macronarrativa temporal das etapas evolutivas, oferece a possibilidade de examinar conflitos em qualquer período histórico — o que explica, em parte, as idas e vindas temporais e espaciais da obra.
Eles enfatizam muito mais a liberdade de agência do que a determinação das estruturas
Os autores enfatizam muito mais a liberdade de agência do que a determinação das estruturas. A intenção é clara e nobre: “Nos despir da ‘infância do Homem’ e reconhecer (como insistia Lévi-Strauss) que nossos primeiros ancestrais eram não só nossos iguais em termos cognitivos, mas também nossos pares intelectuais”. A paridade é buscada na capacidade humana de decidir conscientemente sobre nossas formas de organização política, isto é, no fato de que somos, como estabeleceu Aristóteles, “animais políticos”. O efeito colateral dessa escolha é um voluntarismo excessivo, perdendo de vista a força das estruturas materiais cristalizadas em diferentes contextos.
Um exemplo é a questão ambiental. Apesar de o livro ser uma resposta ao debate sobre a desigualdade escancarada pela crise de 2008, pouco responde às questões colocadas pela atual emergência climática. Não se trata aqui de reclamar a uma obra aquilo que ela não pretendeu ser, mas cala fundo a um tempo devastado pela crise ambiental que uma nova história da humanidade diga tão pouco sobre o assunto. Ao enfatizar a capacidade de escolha dos nossos antepassados, os autores ignoram elementos materiais que podem ter contribuído para a tomada de decisões: perdem de vista que tanto os humanos do passado quanto nós estamos sujeitos aos ecossistemas em que vivemos, nos quais não somos nunca os únicos agentes.
Essa ênfase na agência esbarra em outra questão. Se o neoevolucionismo é o inimigo a combater, alguns tipos de abordagens mais perspectivistas aparecem eventualmente como um inimigo oculto. O despertar de tudo critica a ideia de que “os selvagens reais […] viviam num universo mental diferente”. Aqui há uma antiga armadilha posta ao pensamento antieurocêntrico. Os autores se aproximam de uma crítica ao eurocentrismo próxima à de Jack Goody, que expõe como os europeus se apropriaram de elementos comuns a outras sociedades, tratando-os como exclusivamente seus. Para Graeber e Wengrow, este é o caso da consciência política, que foi expropriada pelo Ocidente como seu monopólio.
Uma história não eurocêntrica
A crítica pós e decolonial produzida no Sul global passa por um caminho alternativo. Autores indianos e latino-americanos mostraram o quanto as categorias, os conceitos e as estruturas lógicas das ciências sociais eram eurocentradas e difundidas violentamente. Descolonizar o pensamento e provincializar a Europa são movimentos que dependem de reconhecer que existem universos mentais diferentes, que foram, na modernidade, alvo do colonialismo e do epistemicídio por parte do universo mental pretensamente ocidental. Em diversos momentos Graeber e Wengrow parecem ter clareza de que abordagens perspectivistas do Sul global também são um problema ao seu argumento. A perspectiva deles é a da construção cultural interacionista, enquanto a ideia de alteridades radicais do perspectivismo vai na direção oposta.
Mas, embora não mobilizem muitas obras do Sul global, Graeber e Wengrow têm uma contribuição relevante ao projeto de uma História não eurocêntrica: a incorporação do pensamento subalterno e o descentramento da referência puramente europeia na construção do mundo moderno são lições valiosas para uma historiografia decolonial. Eles chamam nossa atenção para novos passados, semeados de imaginação, agência, liberdade e experimentação, que podem e devem possibilitar novos futuros.
O despertar de tudo tem o enorme mérito de mostrar a ausência de imaginação dos teóricos sociais em sua “propensão a escrever sobre o passado como se tudo o que ocorreu pudesse ter sido previsto de antemão”. Resistir à tentação de ver o mundo atual como resultado inevitável dos últimos dez mil anos de história é muito difícil. Isso demanda a elaboração de novas macronarrativas que reorganizem a trajetória humana para ver “aspectos do passado remoto que hoje parecem anômalos” como “rupturas significativas”. O despertar de tudo é uma obra seminal para repensar o trabalho intelectual no mundo moderno. E se não apresenta exatamente uma “nova história da humanidade” é porque oferece as bases de muitas novas histórias da humanidade possíveis, que ainda estão por ser escritas.
Matéria publicada na edição impressa #66 em dezembro de 2022.