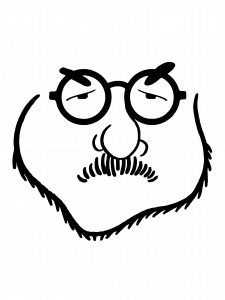Urbanismo,
Rio de Janeiro, modos de usar
Como pensar a cidade sem a tola soberba histórica, trocando a naftalina narrativa dos tempos idos por visões provocativas, complexas e férteis
12jan2020 | Edição #30 jan/fev.20A doença senil da literatura sobre o Rio de Janeiro combina um sentimento de superioridade histórica com o orgulho cafona de um passado glorioso. Mistura, portanto, provincianismo com arrogância e é facilmente consumível como uma espécie de turismo espectral, visita guiada pelo que não existe mais. Imobiliza a cidade como sombra eterna do que viveu e, perversamente, sugere que a reedição do que se foi poderia redimir aquilo que pode vir a ser. Ou nem isso.
A decadência sem precedentes que o Rio vive hoje tem uma causa circunstancial e outra histórica. A primeira pode ser atacada nas urnas, em outubro próximo, expulsando parte da extrema direita que desde 2016 devasta a cidade com incompetência e fundamentalismo religioso. A segunda é mais enraizada e talvez mais difícil de ser combatida. Um bom começo é trocar a naftalina narrativa dos tempos idos pelas visões provocadoras, complexas e férteis de autores que não têm saudade do que não viveram e veem no presente infinitas possibilidades concretas.
Bruno Carvalho e Luiz Antonio Simas são cariocas e historiadores. Como muitos de seus conterrâneos e colegas de ofício, ocupam-se profissionalmente do lugar onde nasceram. O afeto que se encerra no que escrevem não só não nubla a consciência crítica como a potencializa. Em Cidade porosa (Objetiva) e O corpo encantado das ruas (Civilização Brasileira), Carvalho e Simas vêm e vão entre história e noticiário, documento e tradição oral para mostrar um Rio que se fez e refaz longe do litoral e da placidez dos bem-nascidos. A cidade real vive, desde sempre, em permanente convulsão.
Com o imodesto — mas não despropositado — subtítulo “Dois séculos de história cultural do Rio de Janeiro”, Cidade porosa é traduzido seis anos depois de lançado em inglês. Bruno Carvalho foi professor em Princeton, hoje ensina em Harvard e tem gingado suficiente para não ser o que José Murilo de Carvalho chama de “brasilianista brasileiro” — aquele que pesquisando o Brasil a partir de documentos brasileiros vai para o exterior escrever sobre seu país sob orientação de um estrangeiro que estudou no Brasil. A tese que defende é original e dá pano para manga ao conferir centralidade à Cidade Nova como definidora de uma característica essencial do Rio de Janeiro e do Brasil: a porosidade.
Porosidade
Mais Lidas
Por “cidade porosa” não se entenda um epíteto a mais para um lugar cansado deles — da “cidade maravilhosa” à “cidade lagoa” onde “qualquer chuva causa enchente/ não precisa ser toró”. Assim como a “cidade partida”, título do livro de Zuenir Ventura com que dialoga, “cidade porosa” é um operador, uma ideia de interpretação tomada de empréstimo de Walter Benjamin, que usou a mesma imagem para descrever Nápoles. O território definido pela porosidade tem fronteiras paradoxais, em trânsito permanente. Nas palavras do autor, uma cidade de “limites frequentemente fluidos entre a ordem e a desordem, o popular e o erudito, o preto e o branco, a paisagem natural e a urbana, o público e o privado, o sagrado e o profano, o centro e a periferia”.
Hoje um vazio urbano deprimente, cortado por pistas de alta velocidade e adverso aos pedestres, a Cidade Nova começou a ser assim chamada no Império. Seu perímetro era balizado entre o Campo de Sant’Anna, ainda lá, de pé, e a Praça Onze, o chamado “berço do samba”, hoje nome de uma estação de metrô. Representava uma fronteira e uma passagem entre a Cidade Velha e os lados do campo de São Cristóvão, palácio secundário dos monarcas e hoje a ruína do Museu Nacional.
Em suas ruas viveram afrodescendentes, imigrantes da Europa e do Brasil mais pobre, uma expressiva comunidade judaica, ciganos e deslocados de todas as latitudes e sentidos. Nelas o samba e o choro se depuraram e frutificou o meretrício mais célebre de sua época, que inspirou Lasar Segall e Oswald de Andrade. Em torno delas, Orson Welles pensou e filmou parte de It’s all true e criou-se a primeira favela. Na década de 1940, a região foi arrasada pela avenida Presidente Vargas, monumento maior ao fascismo tropical. Mas a cartografia aqui também é porosa e os mapas de hoje exsudam os de ontem.
Analisando um volume impressionante de informação, o livro percorre documentos e estatísticas, Georg Simmel e Grande Otelo, Machado de Assis e Tia Ciata, Manuel Antônio de Almeida e Stefan Zweig. A variedade de referências, assim como a variedade racial, cultural, literária e musical, não é orquestrada como sincretismo ou miscigenação, categorias apaziguadoras e conciliadoras. Na ideia de porosidade, os diferentes se relacionam intensamente ainda que jamais se misturem, pois não há como apagar desigualdade e abismos sociais. A cultura não é produto de uma bonomia inata do carioca, mas da relação conflituada daquilo que atravessa níveis diferentes de cultura, gêneros musicais e literários, instâncias de ordem e transgressão.
Fresta
O que é “poroso” para Bruno Carvalho é “fresta” para Luiz Antonio Simas. É nelas, no que as grandes estruturas deixam vazar, que se fez e faz uma cultura despida da tola soberba histórica e mais centrada nos “processos de invenção e reconstrução de laços de sociabilidade no campo das sapiências das ruas”. Ao parafrasear no título de O corpo encantado das ruas o clássico de João do Rio — que pretendia perscrutar a “alma” da cidade —, Simas toca num ponto fundamental: menos idealização, mais encruzilhada, “lugar em que as ruas se encontram e os corpos da cidade circulam”. Atuar na fresta é produzir cultura “onde só deveria existir o esforço braçal e a morte silenciosa”.
Há continuidade estrutural num Rio que, no samba ou no funk, no Império ou em nossa trôpega República, identificou os mais pobres e menos brancos como uma “classe perigosa”. A cultura celebrada como dominante só existe porque uma outra, a que deveria ser dominada, não abaixou inteiramente a cabeça. É mais do que feliz a expressão “racismo epistêmico” para descrever a persistente devoção de historiadores e escritores pelas hierarquias de saberes — que é também o apego a formas de subjugação racial e social. A cultura carioca, em seus momentos decisivos exportada para o resto do país, definitivamente não se traduz na branquitude de seus cronistas.
Em um dos melhores exemplos de fresta, Simas descreve a “imaginação percussiva” que criou, nas escolas de samba, o surdo “de terceira”. Originalmente o samba era assentado sobre dois tempos fortes, o surdo de marcação e o de “resposta”. Quando, no intervalo entre eles, introduz-se uma outra batida, mais aguda, há uma quebra que confere síncope e ainda mais balanço à batucada. A invenção, atribuída a Tião Miquimba, da Mocidade Independente de Padre Miguel, é para Simas uma forma de pensamento sofisticado sobre a ocupação de intervalos rítmicos, culturais e políticos. Quando uma escola passa no pasteurizado Sambódromo, os tambores, ensina ele, sempre dão um recado diferente, elaboram “outros relatos” que sobrevivem ao espetáculo hoje encenado para a tv.
A um dado momento, Bruno Carvalho recorre, para ilustrar sua leitura do Rio, ao pharmakon, palavra grega que denomina veneno e remédio. Simas, por sua vez, lembra um poema de criação em que Exu teria sido obrigado a escolher entre duas cabaças, a do bem e a do mal. Preferiu uma terceira e nela misturou as outras duas. “Desde este dia”, escreve Simas, “remédio pode ser veneno e veneno pode curar, o bem pode ser o mal, a alma pode ser o corpo, o visível pode ser o invisível e o que não se vê pode ser presença. O dito pode não dizer e o silêncio pode fazer discursos vigorosos. A terceira cabaça é a do inesperado: nela mora a cultura”.
Por caminhos e escritas diferentes, Cidade porosa e O corpo encantado das ruas propõem uma discussão que considero essencial para o Rio de Janeiro e além dele: a desnaturalização da imagem de paraíso à beira-mar, na melhor das hipóteses condescendente com as culturas populares e periféricas. A insistência no carioquismo de almanaque tem consequências políticas graves pois, ao reforçar o clichê, reforça a exclusão e a violência que nele são latentes.
Matéria publicada na edição impressa #30 jan/fev.20 em janeiro de 2020.
Porque você leu Urbanismo
Feia, suja e malvada
Paris inventada por Eric Hazan é um negativo das imagens idílicas das selfies, city tours e cartões-postais
NOVEMBRO, 2018