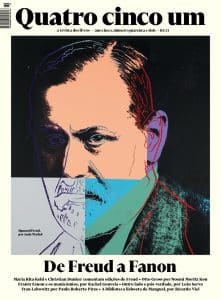Política,
Queridos americanos
Até o centro do mundo se mudar para Pequim, o vosso Capitólio é um pouco nosso também
15jan2021 | Edição #42Imagino-vos exaustos.
Tenho acompanhado as notícias. Vejo-vos atordoados, como pugilistas após um combate, cansados de defender a punho vossos pensamentos e posicionamentos ideológicos, recolhidos no canto do ringue, com a cabeça a latejar da luta que dura desde o nascimento da América, pelos cálculos dos índios norte-americanos e dos descendentes dos povos escravizados. Vejo-vos à procura do norte, entre o ruído de uma multidão de espectadores entusiasmados e outros tantos agitadores profissionais que só vos conhecem dos filmes e livros. Vencedores? Diria que não existem, porque à medida que as posições se extremam, a questão que nos resta colocar é apenas uma: quem realmente sairá beneficiado desse arranca-rabo entre gringos?
“Win or bust”. Temos vindo a interiorizar o mantra dos vitoriosos. Aprendemos que, seja qual for a circunstância, não esperamos nada menos que o aplicar do esforço máximo para atingir o objetivo declarado, tendo o fracasso total como única alternativa. Os empates são inadmissíveis: ninguém se lembra deles. Não se escrevem canções, a Netflix não compra os direitos nem se vendem jornais com empates. Na política, não é diferente. O empate dói mais que a derrota porque, ao fim de um par de dias, este desaparecerá da memória colectiva sem pompa, sem direito a placa comemorativa ou página na Wikipedia alusiva ao dia em que o bom senso reinou entre rivais.
Para quem apostou seu dinheiro ou seu carácter, ficar a chuchar no dedo sem poder gritar vitória imagino que seja no mínimo frustrante. Heróis e vilões, precisa-se deles. São úteis para alimentar dogmas e utopias políticas, mesmo que o herói não tenha vocação para tal e o vilão até ajude velhinhas a atravessar a rua. Ver-vos assim acossados mete dó. Devem estar a sentir saudades dos bons velhos tempos. Pena que a Guerra Fria tenha esfriado, que a Cortina de Ferro já não exista e que a Cuba comunista, sem Fidel, já não seja bem a mesma. Nós, as minorias étnicas que conhecemos bem o sabor amargo da derrota, podemos afirmar: há de passar.
Mais Lidas
Queridos, vos quero bem. Também me virou o estômago ver a bandeira da Confederação desfilar pelos corredores da casa da democracia. Naquele momento, soou dentro de mim a melodia acompanhada dos versos: Dormia/ A nossa pátria-mãe tão distraída/ Sem perceber que era subtraída/ Em tenebrosas transações. O samba-exaltação é de Chico Buarque, tão genial e tão merecedor de um Nobel quanto Dylan, por ter também criado uma nova expressão poética dentro da grande tradição da canção (sul) americana. E falando em canções, por favor, oiçam mais brasileiros, só vos fará bem. Eles, tal como vocês, fazem delas verdadeiras teses poéticas para entendermos a condição humana. Se jazz e blues são a vossa praia, sejam aventureiros e procurem Chiquinha Gonzaga e Pixinguinha e lavem a alma no chorinho.
Lamento que não tenham resolvido, vocês que colocaram o primeiro homem na Lua, essa coisa do racismo. Enquanto não o fizerem, outras nações se desculparão com a ladainha de sempre: na América é pior. Como se existissem Olimpíadas do racismo e o ouro brilhasse sempre nos vossos pescoços. Salvo as menções honrosas para países como o Brasil e os do Leste Europeu, chega a ser poético olhar para a lista do Comité Olímpico: 1 – Estados Unidos, 1022 medalhas de ouro/ 2 – Rússia, 395/ 3 – Grã-Bretanha, 263/ 4 – China, 227/ 5 – França, 212.
Sabem, um comentário que proferi no passado e que me colocou na mira dos racistas de plantão que pululam nas redes sociais foi quando disse que todo homem negro, conscientemente ou não, a dada altura da vida, já odiou o homem branco: sua cultura, sua língua e o poder que exerce sobre nós, os negros. Já invejou — melhor, continua a invejar-lhe — o maior valor da humanidade, a liberdade de simplesmente existir. Desculpai trazer um assunto doloroso, mas não posso deixar de apontar que o ataque ao Capitólio foi um esfregar nas fuças de todos nós, homens, mulheres e queers que gritam “vidas negras importam”, esse tal de privilégio branco que os afectados por ele insistem em denunciar, mas todos os que dele se beneficiam insistem em negar — ou, ainda, os que sabem exactamente como o mundo funciona insistem em assobiar para o lado, como se não fosse com eles.
A violência perpetuada contra os corpos negros — nas mãos de civis, milícias, organizações racistas, grupos de extrema direita e até do próprio Estado — é a mesma violência que matou Abraham Lincoln e os dois Kennedy e subiu a colina do Capitólio e matou o agente Brian D. Sicknick. Essa raiva alimenta-se acima de tudo da indiferença cúmplice de pessoas de bem. Pagadores de impostos, devotos e amantes da lei e da ordem. Essa violência é também lucrativa, só assim podemos explicar que ainda se mantenha, agarrada ao inconsciente caucasiano onde a ideia de que a maldição divina aponta os africanos como descendentes de Caim, o primeiro homicida da história, é algo real. Eu, como fruto dessa árvore genealógica e solidário para com os irmãos da diáspora americana, rogo a Deus: livrai-nos dessa penitência.
A violência que subiu a colina do Capitólio alimenta-se acima de tudo da indiferença cúmplice de pessoas de bem
Queridos americanos, continuo a ter-vos afecto. Só isso explica as horas passadas colado ao ecrã a ver o repetir de imagens semelhantes às que me chegaram do norte de África há uma década, quando o jovem Mohamed Bouazizi, vendedor ambulante formado em engenharia, viu ser-lhe confiscado o ganha-pão pela polícia. Além de lhe quebrarem o espírito, exigindo o jabaculê da praxe, infligiram-lhe humilhações que culminaram na sua autoimolação. Um protesto trágico contra o desemprego e a pobreza na Tunísia que deu início à Revolução de Jasmim e derrubou o ditador Ben Ali. As imagens da insurreição na sede da democracia americana me fizeram lembrar as da Primavera Árabe e de todas as outras revoluções e transformações políticas que directa ou indirectamente tiveram o dedo dos Estados Unidos. Mas o que é chocante é que vós, americanos patriotas, não pedis o fim de ditaduras, mas para que seja instaurada uma no vosso país.
O que a insurreição em Washington expôs não foram só as vossas divisões políticas. Eu, filho da Guerra Fria nascido e criado em Benguela, pendurado nos galhos duma mangueira no meu quintal que me servia de camarote, vi, na conturbada década de 1980, o capitalismo derrotar o socialismo marxista. Eu vi, ninguém me contou. Começou nas matas, depois no mar de Cabinda, passou para cidades e de seguida para dentro das casas de angolanos como eu. E, de repente, o dólar nos fez confiar no seu poder divino e as kinguilas viram as sacerdotisas da economia paralela em Angola. Por isso, mas não apenas por isso, como não nos sentirmos afectados? Quer se queira, quer não, até o centro do mundo se mudar para Pequim, o vosso Capitólio é um pouco nosso também.
Negacionismo
A maior tragédia americana é o negacionismo da sua própria história. Martin Luther King, chamado a comentar a morte de John F. Kennedy, afirmou: “O padrão imperdoável de nossa sociedade foi o fracasso em prender os assassinos [de líderes dos direitos civis assassinados]”. É um julgamento severo, mas inegavelmente verdadeiro, que a causa da indiferença foi a identidade das vítimas. Quase todos eram negros. E assim a praga se alastrou até reivindicar o mais eminente dos americanos, um presidente muito amado e respeitado. A indiferença talvez seja o vosso maior pecado.
Queridos americanos, não vos faltaram vozes que pregassem, dos dois lados do corredor, o que acontece quando não se denuncia e condena a supremacia branca. Oiçam-nas e que Deus vos abençoe, que Deus salve a América.
Matéria publicada na edição impressa #42 em fevereiro de 2021.
Porque você leu Política
Infâncias capturadas pela ditadura
Em Crianças e exílio, mais de quarenta autores trazem as memórias de suas infâncias marcadas pela perseguição política do regime militar brasileiro
MAIO, 2025