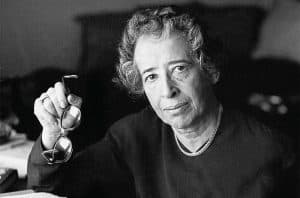Filosofia,
Minha pátria, minha língua
Os verbetes sobre termos intraduzíveis da filosofia, pela primeira vez em português
28fev2019 | Edição #20 Mar.2019O mínimo que se pode dizer a respeito deste Dicionário é que se trata de uma obra extraordinária. Concebido e editado pela filósofa francesa Barbara Cassin, grande conhecedora da tradição sofística grega, o Dicionário dos intraduzíveis, publicado na França em 2004, logo se tornou uma empreitada internacional. Traduzido para numerosas línguas e devidamente adaptado a cada uma delas, deixou as provincianas fronteiras da União Europeia, dentro das quais sua concepção inicial se deu, e chegou a Estados Unidos, Irã, Marrocos — e agora ao Brasil.
Os verbetes do Dicionário não são lexicográficos: eles discutem e questionam a possibilidade de traduzir termos centrais para diferentes tradições filosóficas, bem como estruturas sintáticas de uma língua para outras. Mas a ideia é ir muito além do jargão da intraduzibilidade, segundo o qual existem em toda língua palavras tão especiais que não admitem versão em língua estrangeira. Como explicam Luísa Buarque e Fernando Santoro, na apresentação à edição brasileira, “o Intraduzível é precisamente aquilo que se traduz de muitas maneiras distintas, revelando em cada tradução a diferença entre as línguas e operando, assim, uma transformação no próprio conceito filosófico. É uma noção que recusa tanto a sinonímia e a transparência quanto a surdez entre as línguas; uma definição que desobedece ao princípio de não contradição, deliberadamente construída de forma paradoxal, em acordo com o caráter atópico do próprio intraduzível. Assim, procura-se evidenciar a aliança indissociável entre língua e pensamento a partir da diversidade de línguas e de filosofias”.
‘O Intraduzível é precisamente aquilo que se traduz de muitas maneiras distintas’
Ideia sutil, que parte do pressuposto de que a reflexão se dá na linguagem e se transforma nela. Para muitos leitores de filosofia, é evidente que o pensamento é indissociável da linguagem; daí, inclusive, a exigência constante de boas traduções, de preferência comentadas, em se tratando dos clássicos ou das últimas novidades. É que um filósofo francês ou uma filósofa norte-americana têm jeitos diferentes de pensar, não apenas pelas ideias que propõem, pelo gênero ou pela classe social com que se identificam, mas, sobretudo, porque escrevem e pensam em línguas diferentes. Quando Caetano Veloso disse que “só é possível filosofar em alemão”, estava evocando um tropo recorrente entre algumas tribos filosóficas, ao mesmo tempo que fazia troça das pretensões de seu público. Pode ser que para filosofar tenhamos que vestir este ou aquele traje solene, mas para ler filosofia basta abrir um livro, escrito ou traduzido na língua que se fala no Brasil. Ato trivial, em contraste com a solenidade associada ao pensamento. O Dicionário dos intraduzíveis vem dissolver as fronteiras entre escrever, traduzir e ler.
Livro de muitas línguas
Em certo sentido, a obra é uma celebração do gênio filosófico francês. Quanto à forma, é evidente seu parentesco com o dicionário filosófico por excelência, a Enciclopédia de Diderot e D’Alembert, que, sem se restringir a definir as palavras, dava a elas um tratamento ponderado, explorando seus significados, reconstituindo sua história, remetendo-as a práticas concretas ou de reflexão, deixando abertas vias de variação futura. As afinidades não param por aí. Assim como na Enciclopédia, também no Dicionário é interessante ver como os verbetes escritos por diferentes autores propõem, cada um, uma abordagem própria, chegam a conclusões singulares, enfim, oferecem considerações dotadas de sabores variados. Assim, por exemplo, nada mais distante, quanto ao método e ao tom, da entrada de Jean-Pierre Cléro dedicada à língua inglesa e aquela de Bruna Franchetto, “Brasil de muitas línguas”.
O verbete sobre o inglês é tradicional ao extremo. Colhe seus materiais junto a certa tradição analítica e chega a conclusões previsíveis, embora altamente questionáveis, partindo de uma premissa simplista, segundo a qual a língua dos filósofos que escreveram em inglês, de Locke a Russell, é tributária “do ambiente natural das palavras de todos os dias” (como se não fosse o caso de todo filósofo), o que explicaria, inclusive, a suposta repulsa dos britânicos e norte-americanos por especulações de teor metafísico.
Quando Caetano Veloso disse que ‘só é possível filosofar em alemão’, estava evocando um tropo recorrente entre algumas tribos filosóficas
Essa avaliação não se deve, justiça seja feita, a Cléro e a seus colaboradores, que vão encontrá-la junto a ninguém menos que Wittgenstein (1889–1951). Ora, se é que esse grande gênio disse mesmo tais coisas, supõe-se que nunca tenha dado a devida atenção às estruturas latinas da prosa de Locke, ao vocabulário e à sintaxe afrancesados de Hume e Smith, às inflexões germânicas do ensaísmo de Carlyle, ao pendor metafísico das especulações de Emerson, às afinidades entre James e Bergson, e assim por diante. Fica a dúvida, mas, em todo caso, a leitura do verbete não deixa de ser um convite para que o leitor retome essa tradição filosófica e avalie se ela é mesmo assim tão antimetafísica.
Mais Lidas
Já no verbete sobre as línguas brasileiras, Bruna Franchetto declara, de saída, que não se trata de falar da língua portuguesa (ela mesma uma importação europeia), mas sim das línguas ameríndias. Gesto ousado, que tem a vantagem de declarar, desde o início, o viés da rica e erudita investigação levada a cabo por uma linguista de reputação consolidada. Pretende, com isso, mostrar como certa reflexão filosófica é elaborada nas categorias mesmas que constituem algumas línguas ameríndias e, no curto espaço que ocupa, o verbete é plenamente bem-sucedido. Mas o tratamento linguístico e estrutural está longe de ser neutro, e nem poderia sê-lo.
Ao mesmo tempo que nos enreda pelas sinuosas vias de línguas que são pouco conhecidas pelo grande público brasileiro, Franchetto chama a atenção para certa filosofia que nunca se definiu como tal, porque suas palavras não vieram da Grécia nem de Roma, mas sim de outra história: a dos habitantes do continente americano, antes das invasões europeias e independentemente, até certo ponto, delas. Tradição que apenas recentemente vem sendo estudada, pelos etnólogos, com a devida atenção, para proveito de todos os interessados em “filosofia”. As aspas se fazem necessárias porque não é bem disso que se trata, evidentemente. Se é necessário manter a designação grega para essas formas e métodos de pensar com línguas, é porque ainda não se pôs de lado, suficientemente, o resquício metafísico herdado da “tradição filosófica ocidental” a que se refere a autora (arriscando-se, com essa denominação, a se referir a tudo sem dizer nada).
Põe-se então a questão de saber se não valeria explorar, para além do horizonte de uma renovação metafísica, a dimensão sofística e retórica dessas línguas forjadas longe do Ocidente mas, mesmo assim, ciosas de imperativos técnicos, sociais e políticos bastante prementes. É uma indagação talvez inevitável, dada a inserção dessa valiosa contribuição no conjunto de um Dicionário que toma a língua como lugar de estruturação dinâmica do pensamento.
O francês, os franceses
Pode-se muito bem recorrer ao “outro” para tentar se distanciar de si mesmo, mas também é possível tratar a si mesmo como um outro, sem pressupor uma identidade antes de verificar se ela existe de fato. No prefácio à edição francesa, a filósofa Barbara Cassin manifesta a esperança de “que o Dicionário sensibilize uma outra maneira de filosofar, que não pensa o conceito sem a palavra, pois não há conceito sem palavra”. Lê-se aí a revanche do sofista, que se delicia com os emaranhados discursivos e os labirintos sem saída que eles produzem, contra o platônico, com sua insistência na dissociação entre o intelectual e o sensível. Essa oposição, também formulada em termos de aparência e essência, foi estudada por Cassin ao longo de sua obra de helenista, mas poderíamos dizer que, no contexto do Dicionário dos intraduzíveis, ela é bem francesa e remete à devastadora crítica da metafísica cartesiana elaborada por Condillac no século 18: contra a ideia de que os signos deturpam o pensamento, é necessário recuperar o preceito de que eles formam o raciocínio e permitem a reflexão, articulando assim o próprio domínio da experiência.
Gramática geral
Nessa perspectiva, um dos pontos altos do Dicionário é sem dúvida o verbete de Alain Badiou dedicado à língua francesa. Muito mais que um desmentido de que a obra desse filósofo se resume a especulações sem propósito, esse texto se apresenta como algo surpreendente, uma versão contemporânea daquele clássico gênero filosófico-retórico que, na época de Descartes, recebeu o nome de “gramática geral”. Badiou evita a tentação de dissecar esse gênero de fora e apontar para suas supostas insuficiências, do ponto de vista do atual estado das ditas “ciências da linguagem”. Ao escrever à maneira do século 17, Badiou pode chamar a atenção para o uso, no francês filosófico contemporâneo, de dispositivos de significação, como definições, analogias, estruturas sintáticas, inversões e torneios de frase, que caracterizam a língua filosófica francesa desde a primeira inserção histórica (com Descartes). Sem muito alarde, ele consegue com isso mostrar como a língua dá uma orientação ao pensamento e o organiza de tal modo que, mesmo quando ele luta para se desvencilhar de certas tendências, termina, cedo ou tarde, por reencontrá-las.
Contra a abstração generalizante, o exercício da tradução nos devolve à reflexão concreta, à formação do conceito na língua
Badiou escreve: “A soberania sintática do francês não autoriza o deleite descritivo nem o insondável vir a ser do absoluto. É uma língua esguia, cuja saturação exige uma longa sequência de frases, sustentada por poderosas conexões proposicionais”. Denúncia do retorno do mesmo? Não: celebração de um gozo, marcado pela repetição temperada pela diferença, e que, longe de ser negado pelos filósofos franceses pós-estruturalistas, foi cultivado por eles com afinco. Instrumento analítico, similar ao cálculo matemático, a língua francesa filosófica permite que se teçam as mais variadas analogias, sem que com isso se corra o risco da ambiguidade ou da falta de sentido. De que outro modo seria possível escrever, por exemplo, um livro como Diferença e repetição (1968), de Gilles Deleuze? O gênio do achado de Badiou (ao qual acrescento aqui modestas ilustrações) reluz ainda mais brilhante quando nos damos conta de que muitas frases do próprio Badiou poderiam ter sido extraídas do Tratado da arte de escrever (1775), do já mencionado Condillac. A contribuição de Badiou, com seus efeitos quase alucinatórios, valeria por si a aquisição do volume inteiro, não fosse a qualidade que pauta a sua elaboração de uma ponta a outra, mesmo quando somos levados a discordar, às vezes veementemente, do que é dito nesta ou naquela entrada.
Versão brasileira
É preciso reiterar que a cuidadosa versão brasileira do Dicionário dos intraduzíveis faz jus ao original. As traduções são meticulosas, os adendos são interessantes, o conjunto é esmerado. O que não é pouco: muita coisa poderia dar errado na preparação de um volume como esse. Se existe um reparo a fazer, parece ser o seguinte. A filosofia propriamente dita, não como diletantismo, mas como disciplina estudiosa, fincou raízes no Brasil apenas quando os escritos clássicos europeus puderam ser lidos em português pelo público em geral a partir de versões rigorosas e fidedignas, que respeitam os originais e chamam a atenção para as dificuldades e impasses da conversão para a língua que, bem ou mal, é a mais falada no território brasileiro. Então, a leitura dos clássicos passou a ser um antídoto contra “pensadores” que, supostamente dotados de ideias próprias, não faziam mais do que repisar obviedades e distorcer ideias interessantes conforme os ditames de sua própria fantasia. Não é que o desvario tenha se extinguido entre nós. Mas agora existem condições para que o nonsense seja tratado como tal, e os direitos da saudável filosofia -— difícil, muitas vezes acadêmica, sempre instigante — sejam resguardados. É dessa filosofia que se trata no Dicionário dos intraduzíveis. Diante disso, a nossa versão da obra poderia ter dado mais atenção à história das traduções filosóficas no Brasil, com especial destaque para a segunda metade do século 20, quando os germanistas em particular se encarregaram de elevar a outro patamar não somente a arte impossível de que fala Barbara Cassin, mas, com ela, também a concepção do que a filosofia pode ser — muito mais do que um arsenal de ideias prontas. Contra a abstração generalizante, o exercício da tradução nos devolve à reflexão concreta, à formação do conceito na língua. Pensar em português: eis aí um desafio considerável, ao qual o Dicionário nos convida, libertando-nos da tirania do lugar-comum.
Matéria publicada na edição impressa #20 Mar.2019 em fevereiro de 2019.
Porque você leu Filosofia
A encruzilhada da verdade em Foucault
Conjunto de textos ajuda a entender a torção teórica e o plano de voo do filósofo francês para uma nova maneira de pensar
JANEIRO, 2025