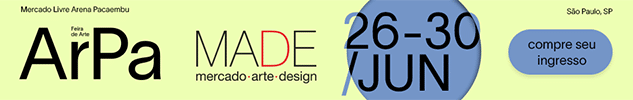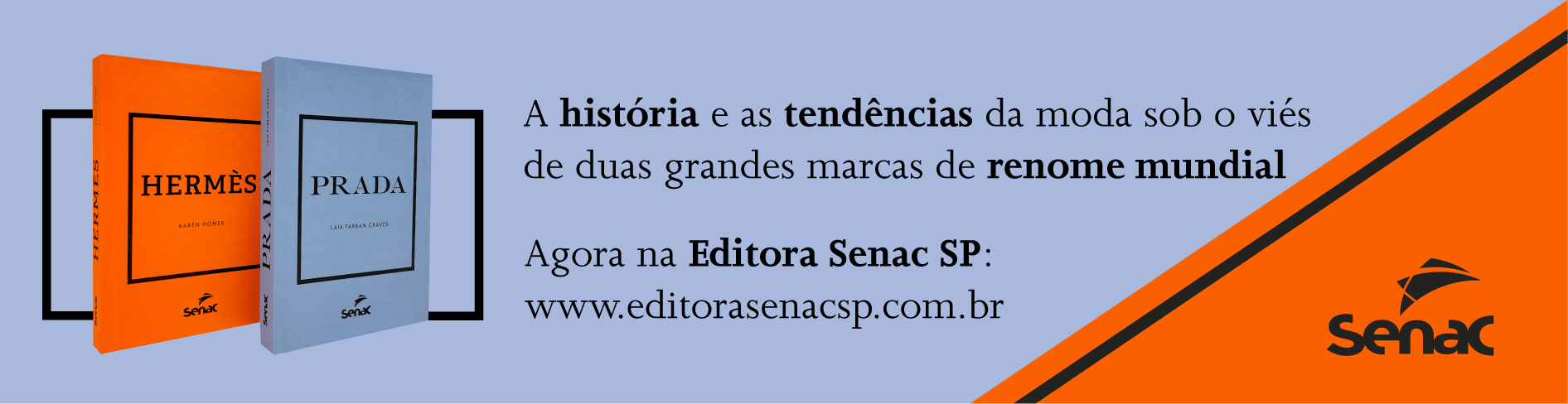A Feira do Livro, Música,
Devagar, devagarinho e sempre
Aos 86 anos, Martinho da Vila lança suas memórias de quase setenta anos de música, 38 de escrita e mais de vinte livros
29maio2024 - 16h17 • 29maio2024 - 16h18 | Edição #82Quem procurava Martinho José Ferreira na Academia de Comércio Candido Mendes, onde ele era aluno de contabilidade no início da juventude, não deveria perguntar pelo seu nome, mas pelo apelido: Devagar. Bem antes de ser conhecido em todo o país como Martinho da Vila, ele já tinha a fama de ser um tanto arrastado — devagar, devagarinho, como no samba de Eraldo Divagar (!) que gravou em 1995 e virou uma espécie de declaração de princípios. Mas Cláudio Jorge, violonista que toca com ele há 37 anos, pondera: “É devagar, devagarinho e sempre”.
Alguém que já gravou dezenas de discos, escreveu mais de vinte livros e continua em plena atividade aos 86 anos — além de ter tido oito filhos, entre eles a cantora Mart’nália — não pode ser chamado de preguiçoso. O recém-lançado livro de memórias Martinho da vida prova que sua trajetória pessoal e profissional é para lá de intensa. “Estou na época de ficar em casa. Já era para estar aposentado. Mas sei que idoso é igual a carro velho: se ficar muito tempo parado, não anda mais. Eu fico na ativa”, explica o sambista, que aproveitou a pandemia para passar suas lembranças para o computador, missão que concluiu em 2023. No livro, ele se divide em dois: Da Vila e Zé Ferreira. Da conversa entre ambos saem as histórias. Uma narrativa que tem algo de circular.
Mais Lidas
O lugar aonde mais gosta de ir é Duas Barras, cidadezinha de pouco mais de 10 mil habitantes no interior do Estado do Rio de Janeiro. E foi lá que ele nasceu, em 1938. “Já andei muito, não quero ir a lugar nenhum, mas a Duas Barras vou com prazer”, avisa.
Martinho começou a fazer sucesso no final dos anos 60, quando também brilhavam Caetano Veloso, Gilberto Gil e outros baianos. Deu-se a confusão. “Como eu falava bem devagar, mais do que hoje, as pessoas pensavam que eu era baiano. Aí tive que dizer que nasci numa cidade chamada Duas Barras. Isso foi um acontecimento. A cidadezinha nunca tinha sido falada. Fizeram contato, me receberam com banda, foi uma festa.”
Alegria, alegria
Martinho já tinha trinta anos de idade quando regressou à cidade natal. Havia se mudado com a família aos quatro anos, quando o lugar era ainda mais rural do que hoje, e não voltara mais. Seu pai, Josué Ferreira, com dificuldades de sustentar mulher e cinco filhos trabalhando na roça, decidiu tentar a sorte na capital. Mudaram-se para um morro, a Serra dos Pretos-Forros, na região da Boca do Mato, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Vida de pouca comida e nenhum conforto num barraco de zinco. Em suas memórias, Martinho narra como a família sentiu a diferença:
Aqui, no Rio, papai era como um operário qualquer, nem conheceu o patrão, dono da fábrica forjadora de ferro, a Fundição Americana. Acostumado a trabalhar ao ar livre, sofria com o terrível calor do interior da fundição e, ao ver o ferro derreter nas fornalhas, tinha a impressão de que estava no inferno, palavras dele.
Josué não suportou e se matou. O único filho homem tinha dez anos. “Não me lembro como me senti. As coisas ruins eu deleto da cabeça. Apago e não me lembro.” Ele diz ter um compromisso com a alegria. “Não sou amigo na doença. Se você ficar doente, não conte comigo. Quando tem um amigo precisando de alguma coisa, dou uma colher de chá. Mas não gosto de visitar. Não vou poder fazer nada. Saio de lá mal. Acho que não alegro muito. Às vezes até incomodo”, afirma.
Diz que o pai gostava de ler jornais e cantar. Mas que a sua referência de vida é mesmo a mãe, que batalhou muito. Ele até escreveu Memórias de Teresa de Jesus, no qual ela é a narradora. Para ajudá-la, o menino e, depois, o adolescente foi brincador (era pago para brincar com o filho único de uma família), funcionário de aviário, atendente de farmácia, faz-tudo em escritório de advocacia e vendedor de estrume. Pegava fezes de bois e cavalos no pasto da dona Maria das Vacas, na Boca do Mato, e oferecia a quem tinha jardim em casa. “É leve e não tem cheiro. Botava no saquinho e ia vender. Fui vendedor de bosta”, diverte-se.
‘Citei umas obras do Machado, mas nunca tinha lido nada. Aí achei melhor começar a ler’
Na Serra dos Pretos-Forros ele já ouvia samba, como o que vinha da Aprendizes da Boca do Mato, a primeira escola de que participou. Tocava frigideira na bateria, antes de virar compositor. Depois de um período criando músicas desinteressadamente, como paródias para a torcida do Boquense Futebol Clube cantar, ele arriscou um samba para o enredo sobre Carlos Gomes. Impressionados, os outros autores retiraram os seus da disputa em prol do dele. Era 1957, ele tinha dezenove anos e percebeu que levava jeito.
Dois anos depois, o tema era Machado de Assis. Ficou encrencado, porque não sabia nada do escritor. “Dei uma pesquisada e fiz o samba. E ganhei. Citei umas obras do Machado, mas nunca tinha lido nada. As pessoas perguntavam alguma coisa, e eu tinha que enrolar. Aí achei melhor começar a ler. E peguei o hábito da leitura”, conta ele, que nunca mais se afastou dos livros.
Nessa época, estava no Exército, onde ficou por treze anos. Entrou almejando o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército, pois se formara auxiliar de químico industrial pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), mas acabou seguindo carreira como cabo e sargento. Assegura que jamais participou da repressão durante a ditadura militar, o que não o impediu de ser mal visto por parte dos colegas artistas e do público, depois de ter largado a farda.
“O Exército dizia que dava baixa para muita gente, mas não dava. Quando precisavam de algo, chamavam o cara. Então, (os artistas e o público) pensavam que eu era do SNI (Serviço Nacional de Informações), mas eu não era. Nos shows, gritavam ‘sargento!’. Era um xingamento. Outros, depois que eu fui a Angola, gritavam ‘comunista!’”, lembra.
Embora não gostasse da ditadura, Martinho diz que demorou a ter consciência política. A virada de chave aconteceu no início dos anos 70, na viagem a Angola. Parte da população lutava para se livrar do domínio colonial português. Ele fazia show em Luanda num 7 de setembro quando disse que o país também veria sua independência. O público o ovacionou. Angola se tornou independente anos depois, em 1975. Martinho foi simpatizante do Partido Comunista Brasileiro e depois se filiou ao PCdoB, mas nunca se candidatou a nada, como se chegou a ventilar.
Quero ser compositor
A fama como sambista começou a ser construída em 1967. Ainda com o nome Martinho José Ferreira, inscreveu “Menina moça” no Festival da Record — aquele de “Ponteio”, “Domingo no parque”, “Roda viva” e “Alegria, alegria”. Cantou na eliminatória de 14 de outubro, mas não se classificou. Segundo escreve nas memórias, o júri preferiu “Beto bom de bola”, o samba pesadamente vaiado na final, o que levou seu autor e intérprete, Sérgio Ricardo, a quebrar o violão e jogar na plateia. “Bem feito!”, recorda-se, no livro, ter dito diante da TV.
Apesar da desclassificação, o samba foi muito comentado, foi elogiado por Augusto de Campos e serviu como cartão de visitas de Martinho. Ele levava para o cenário nacional um estilo que criou a partir da vivência nos terreiros — como então se chamavam as quadras — das escolas de samba. A base era o partido-alto, a forma que tem um refrão fixo e segundas partes improvisadas. No caso dele, eram fixas.
“Martinho, ao participar daquele festival concorrendo com um samba do estilo partido-alto, foi um desbravador”, afirma o compositor e escritor Nei Lopes, estudioso de samba e da cultura afro-brasileira em geral. “Como ele disse uma vez, numa entrevista, esse tipo de samba era sempre visto como uma ‘brincadeira’, praticada na intimidade dos terreiros das escolas, quando as ‘visitas’ já tinham ido embora. No festival ele foi visto como um ‘crioulo doido’, como se dizia. E a ‘doideira’ está aí até hoje.”
Na edição de 1968 do Festival da Record, Martinho inscreveu “Casa de bamba”. Mais uma vez, não foi para a final. E mais uma vez fez grande sucesso, aí já como Martinho da Vila, pois estava desde 1965 integrado à Unidos de Vila Isabel. Jair Rodrigues gravou o samba e estourou nas rádios. Em seguida, o próprio autor lançou sua versão. A gravadora RCA Victor o chamou para uma conversa.“Achei que era algum cantor querendo gravar música minha. Sonho de compositor é esse. Mas me apresentaram contrato de cantor. ‘Não, cantor não quero ser.’ ‘Quero ser compositor’, recorda.
Embora não gostasse da ditadura, Martinho diz que demorou a ter consciência política
Hábil, o diretor Romeo Nunes propôs que ele gravasse no estúdio alguns sambas, que seriam mostrados para outros intérpretes. Quando o material ficou pronto, Nunes disse que estava muito bom e que lançariam as doze faixas num LP. O disco Martinho da Vila, de 1969, é um dos mais importantes de sua carreira. Vendeu 400 mil cópias e reuniu algumas músicas que continuam sendo cantadas, como “Casa de bamba”, “O pequeno burguês”, “Quem é do mar não enjoa”, “Tom maior” e “Pra que dinheiro?”.
Nem precisou o LP conquistar o país para Martinho deixar o Exército. Com o sucesso do compacto (ou single) de “Casa de bamba”, ele viu que precisava resolver para que lado seguir. A decisão não foi fácil, como ele conta no livro:
A profissão de artista é insegura, talentosos fizeram sucesso e desapareceram; no Exército eu tinha estabilidade e chances de promoções. Um amigo me incentivou com o provérbio: ‘Quem não arrisca não petisca’. […] Decidi arriscar e virei artista.
Já naquele início, Martinho ganhou a fama de fazer sambas muito parecidos uns com os outros. Mesmo que parte deles seja, são originais, com caminhos surpreendentes e abertos por alguém que não toca qualquer instrumento de harmonia, apenas de percussão. “Primeiro eu tive um violão. Era de corda de aço, marcava o dedo. O cavaquinho também era de corda de aço, descascava. Desisti, nunca quis aprender. Não sou compositor acadêmico”, assume.
“Ele é batuqueiro. Tem música na alma, na consciência. Quem falava que era tudo igual não entendeu nada”, afirma o violonista Cláudio Jorge, este sim um músico de formação sólida. Martinho cogitou ir para o Império Serrano, lugar de grandes compositores, mas se decidiu pela Unidos de Vila Isabel, ainda distante de figurar entre as principais agremiações. O novo integrante não demorou a se consolidar como o principal autor de sambas-enredo da escola. Emplacou quatro seguidos: 1967 (“Três acontecimentos históricos”), 1968 (“Quatro séculos de modas e costumes”), 1969 (“Iaiá do Cais Dourado”) e 1970 (“Glórias gaúchas”). Ainda viria a ganhar mais seis vezes — embora tenha deixado de concorrer em vários anos — e se consagrado como um dos maiores nomes do gênero. “A Vila era uma escola pequena. Para mim, é uma menina que eu ajudei a criar. E acabei herdando o nome da família dela”, diz.
Relançamentos e estudos evocam a memória dispersa e fragmentada de um gênero em permanente transformação
Viver no mundo dos desfiles de Carnaval significa conviver com figuras nada impolutas, como os bicheiros. O que patrocinou a Vila por mais tempo — e ainda patrocina — é Aílton Guimarães Jorge, o Capitão Guimarães, apontado pelo grupo Tortura Nunca Mais como torturador durante a ditadura. “É uma convivência natural”, afirma Martinho. “O bicheiro entrou na escola de samba por causa dos prefeitos. A prefeitura subvencionava, mas dava essa grana em cima do Carnaval, aí já não era possível fazer mais nada. As escolas recorriam aos bicheiros do bairro. Com isso, eles acabaram entrando.”
Morador hoje da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade, ele diz sentir saudade do tempo em que vivia em Vila Isabel, na Zona Norte, bairro mais perto do Centro e no qual as pessoas conviviam mais. Não consegue se afastar da escola, embora diga desejar. “Não quero desfilar, já chega. Depois daquela homenagem que a Vila fez para mim (no Carnaval de 2022), posso fechar a tampa. Já fiz samba-enredo, enredo, saí de destaque, em ala, na bateria. Não vou mais desfilar. Mas eu não tenho palavra”, ri. “Sonho que ainda não realizei é o de ver de camarote a Vila. Todo ano planejo, mas acabo indo desfilar.”
Relatos empolgados
Há 38 anos, também encontra tempo em sua vida para escrever livros. Ele diz ter começado por acaso, quando a editora Global o convidou, juntamente com outros artistas, para participar da série infantil Quem canta, conta. “Escrevi, mas o livro não ficou infantil: ‘Vamos brincar de política?’”, diz, sorrindo. Em 1988, no centenário da abolição da escravatura, criou para a Vila o enredo campeão “Kizomba, festa da raça” e se empolgou em relatar muito do que viveu em Kizombas, andanças e festanças, como ficou o título. A carreira seguiu prolífica, com ficções (Joana e Joanes, de 1999, por exemplo), crônicas (como 2018: crônicas de um ano atípico) e muitos livros para crianças, inclusive transmitindo seu conhecimento sobre samba, casos de Martinho conta Cartola e Martinho conta Noel, ambos de 2021.
Com tamanha produção, buscou uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Candidatou-se, em 2010, à cadeira 29, mas não recebeu um voto sequer. Assumiu, à época, ter ficado “chateadinho”, e depois passou a explicar que considerou aquilo uma missão. “Alguns líderes do movimento negro me procuraram: ‘A gente precisa ter um negro na Academia’. Só tinha um (Domício Proença Filho; hoje também há Gilberto Gil). E ela foi fundada por um negro, Machado de Assis. Eu me candidatei pra cumprir uma tarefa. Não deu certo. Não pretendo de novo. Mas tem muita gente que diz que não sonha com a Academia e acabou lá. A escolha é feita pela diretoria, cheguei a essa conclusão. Eles se reúnem e mandam se candidatar quem já está credenciado. Não sou candidato, mas, se for escolhido, seria uma honraria”, afirma ele, que integra desde 2014 a Academia Carioca de Letras.
Ele também viveu para reconhecer que sambas que compôs tinham letras bastante machistas
Nei Lopes avalia o porquê da rejeição a Martinho na ABL: “É uma instituição a serviço da cultura brasileira. Aliás, mais do que uma instituição, é uma entidade corporativa, que congrega gente que pensa, quase sempre, do mesmo jeito. Quando Martinho se candidatou, quase ninguém sabia que ele era também escritor. A ‘persona’ dele e a aura que emanava da sua figura eram a do sambista, apesar de seu comprometimento com o pan-africanismo e sua condição de diplomata informal da conexão lusófona”.
Além de se apresentar várias vezes em Angola, Martinho passou a levar outros artistas brasileiros para o país e a trazer artistas de lá para o Brasil. Sua fama de cantor e seu papel de “diplomata” se estenderam para outros países de língua portuguesa, como Cabo Verde e Moçambique, onde chega a fazer shows em estádios. Também atrai milhares de espectadores em Portugal, e virou um elo cultural entre todas essas nações. Já escreveu um livro intitulado Os lusófonos, em 2006, e fez discos inspirados pelo tema.
Homem jovial
Hoje, Martinho está bastante associado às lutas pela afirmação da negritude, o que ele diz não ter qualquer relação com experiências pessoais. “Nunca sofri racismo, sinceramente. Nunca aconteceu. Mas sempre luto contra o racismo com o que eu escrevo, com a música. O racismo não diminuiu, mas a discriminação, sim. No Brasil não estávamos na publicidade. Hoje a negrada está em tudo quanto é canto. Descobriram que nossa projeção é forte, empresas até disputam para a gente fazer campanha. Fico feliz de ter vivido tantos anos para ver isso.”
Ele também viveu para reconhecer que sambas que compôs tinham letras bastante machistas. O exemplo mais conhecido é “Você não passa de uma mulher”, de 1975. Martinho se justifica lembrando que os costumes eram outros. “A maioria das músicas românticas foi feita por homens. Havia poucas mulheres compositoras. O machismo era assumido naqueles tempos. Depois é que começou a ser combatido. Muitas dessas músicas eu não canto mais.”
Em Martinho da vida, ele discorre sobre vários relacionamentos que teve, curtos ou longos. Às vezes dá os nomes das mulheres. Assume até casos extraconjugais que teve num casamento anterior ao atual. Há mais de trinta anos vive com Clediomar Correa Liscano, a Cleo — ou, para ele, Preta. No livro, na entrevista à Quatro Cinco Um e nos shows que faz, transmite a imagem de um homem jovial, que lida bem com os 86 anos. “Não vejo muita diferença para quarenta anos atrás”, diz. “Antigamente, eu seria muito velho. Aos sessenta anos você já era considerado velho. Enquanto eu estiver criativo, podendo fazer coisas, sendo útil, pretendo ficar por aqui. Ainda dá para fazer confusões por mais uns dez anos.”
Pela saúde e pela vida como um todo, é grato aos santos e aos orixás, cultivador que é do sincretismo brasileiro
Ele já se saiu bem de um câncer de próstata. E diz controlar melhor a bebida. Numa época em que estava abusando do álcool, chegou a ter uma crise nervosa e ser contido numa camisa-de-força. O que não larga é o cigarro. “Comecei a fumar aos quatro anos de idade”, escreve nas memórias. Ele explica que tinha mania de comer terra, o que seria comum na roça. A avó paterna, Procópia, disse para sua mãe que, sempre que o visse ingerindo terra, botasse um cigarro na sua boca, para ele ficar com um gosto ruim e parar com o hábito. Deu no que deu: ganhou um hábito para sempre. Mas garante que não traga, apenas pita.
Pela saúde e pela vida como um todo, é grato aos santos e aos orixás, cultivador que é do sincretismo brasileiro. Pensa em não gravar mais discos, mas sempre é convencido do contrário. Em maio lançou Violões e cavaquinhos. Todos os seus discos são conceituais, com uma ideia servindo de eixo. Casos conhecidos são os de Rosa do povo (1976) — livremente inspirado no livro de Carlos Drummond de Andrade — e Martinho da Vila Isabel (1984), com sambas ligados ao bairro.
O sonho é passar mais tempo na fazenda que comprou em Duas Barras. A Cedro Grande, onde nasceu, pois seus pais trabalhavam nela, virou o Instituto Cultural Martinho da Vila. A propriedade tem, segundo ele, “vaquinhas”, “galinhazinhas” e “porquinhos”, nada com objetivo de matar e fazer dinheiro. Ele só quer saber de vida, agora calma, coroando a intensa que já viveu. Pesca, conversa, caminha. Tudo sem pressa. Devagar, devagarinho.
Matéria publicada na edição impressa #82 em junho de 2024. Com o título “Devagar, devagarinho e sempre”
Porque você leu A Feira do Livro | Música
Madonna e o sábado passado em San Pedro
Uma ilha imaginária, retratada numa canção pop dos anos 1980, nos faz pensar em ideias de liberdade e em utopias possíveis
MAIO, 2024