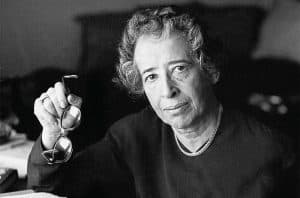Filosofia,
O crepúsculo do esquerdomacho
Ensaio de Francisco Bosco sobre batalhas virtuais reproduz clichês de classe e tenta traçar limites para a atuação de minorias nas redes
13nov2018 | Edição #7 nov.2017Em 1983, a teórica indiana Gayatri Spivak escreveu Pode o subalterno falar? (Editora UFMG). O ensaio, referência para compreender a contribuição dos estudos pós-coloniais para as ciências humanas, fala do silenciamento sistemático dos subordinados. Categoria nomeada por Gramsci, o subalterno é aquele ou aquela que não pertence social, política e geograficamente às estruturas hegemônicas de poder. São os excluídos. Os triturados pela mecânica da discriminação.
Elza Soares estreou no programa de rádio de Ary Barroso na Rádio Tupi. Tinha treze anos e já era mãe. Mulher negra, jovem e muito magra, notavam-se os remendos em sua roupa. Foi recebida com uma dose do caldo de branquitude, classismo e machismo que a elite brasileira tem como bebida favorita. Barroso perguntou o que ela estava fazendo ali. “Eu vim cantar.” “E quem disse que você sabe cantar?” “Eu”, diz a subalterna. “E de onde você veio, menina?” Com a altivez disruptiva que está em cada nota do seu jazz-lata-d’água-na-cabeça, ela afirmou: “Vim do planeta fome”.
Pode o subalterno cantar? Ary e sua plateia que rompe em risadas estavam certos de que não. O livro recém-lançado de Francisco Bosco, A vítima tem sempre razão?, mostra que mudamos pouco. Somos a mesma plateia, diante de novas mídias. Desconfortáveis diante da fala dos excluídos, tentando dar-lhes limites, numa espécie de elevador de serviço virtual.
Esbanjando vasto repertório, Bosco vê na academia brasileira, em especial na sociologia uspiana dos anos 1950 e 60, uma primeira ruptura com o monopólio do que ele chama “estamentos superiores de nossa sociedade” na atividade de teorizar o país. Estão inscritas neste contexto as primeiras interpretações do Brasil que dão a centralidade merecida à desigualdade. Bosco é, todavia, um tanto condescendente. Aquelas produções decerto avançaram na compreensão de como a luta de classes ganhava concretude em nosso país. Mas a universidade não era, à época, um lugar acessível a qualquer brasileiro.
O autor identifica uma segunda ruptura com a ideia de Brasil exuberante, melting pot que produz Carmens Mirandas e homens cordiais: a anticordialidade representada na política por Lula e na cultura por Mano Brown e os Racionais. Eles vibravam, para Bosco, numa mesma frequência. O desconforto foi a tônica que pautou a reação das elites: Chico Buarque decretou o fim da canção como a conhecíamos ao ouvir Racionais.
Bosco recompõe com competência um processo complexo: como o Brasil deixou de ser um país cuja cultura popular era imaginada pela elite para nos unificar, ignorando os muitos remendos em nosso tecido social, e passou a encarar seus conflitos, inaugurando o que o autor chama de “novo espaço público brasileiro”.
Mais Lidas
Ao encerrar essa parte, Bosco nos lembra o escritor norte-americano e ativista pelos direitos civis James Baldwin, que dizia que a história de seu país era muito mais longa, contraditória, bonita e terrível do que o que se contava a seu respeito. Ao igualar beleza e terror, Baldwin reconhece algo que está nas páginas de Bosco: epítomes não nos ajudam a nos entender. Paradoxos, estes, sim.
Espaço público
A segunda parte pretende definir o tal “novo espaço público brasileiro”. Três elementos teriam determinado sua gênese: as Jornadas de Junho (2013), o fim da pax lulista e a emergência das redes sociais como principal ambiente de formação, informação e desinformação do brasileiro. Trata-se de um esforço, é mister admitir, de grande coragem lançar-se na tentativa de síntese do agora. A falta de distanciamento histórico deve se traduzir, no peito do leitor, em generosidade.
Aqui, vale ressaltar, Bosco flerta com o que talvez seja a maior tarefa de nosso tempo, aquilo que pode ser capaz de desatar o nó do Zeitgeist. São muitas as análises que opõem as agendas contramajoritárias defendidas pelas minorias a algo de universal, homogêneo e compartilhado, que seria a argamassa da experiência democrática e da essência da militância da esquerda. À luta política estariam submetidas todas as demais. O autor escorrega ao conceder que a centralidade que as lutas identitárias assumiram nas últimas décadas seria fonte de problemas.
Se as duas primeiras partes são eficientes e até corajosas, a terceira patina. Em primeira pessoa, Bosco declara que o que seguirá será uma sequência de exemplos e algumas definições teóricas frágeis a respeito daquilo que ele “considera inaceitável” como práticas empreendidas pelas minorias nas lutas travadas, em especial no mundo on-line. Demonstra-se preocupado com o mau uso que minorias estariam fazendo do “novo espaço público brasileiro”.
O autor, daí em diante, elenca em pé de igualdade questões substantivamente distintas. Compara querelas digitais relevantes, como o caso do turbante, que despertou um interessante debate a respeito de “apropriação cultural”, com controvérsias fugazes, como a que envolveu um clipe recente da cantora Mallu Magalhães. Pior: traz para uma condição de igualdade um caso labiríntico e delicado como o que envolveu o professor Idelber Avelar e diversas acusações de abuso.
A justificativa de Bosco é: não seriam justas estratégias “desequilibradas” voltadas contra indivíduos. E só então o autor revela seu real desconforto, a força motriz da obra: o questionamento de noções como “não se pode duvidar da vítima”, “é preciso ter empatia com a vítima sempre” ou “todo homem é um estuprador em potencial”. Afirma que o objetivo de seu livro é que movimentos identitários abandonem tais formas de ação e não “instrumentalizem” o indivíduo.
Há uma discussão pujante a respeito do lugar da vítima na sociedade contemporânea. O escritor italiano Daniele Giglioli, por exemplo, é autor do interessantíssimo Crítica da vítima, de 2014. A primeira frase de seu livro é um soco no estômago: “A vítima é o herói de nosso tempo”. Giglioli dedica seu livro às vítimas que não desejam mais sê-lo e impiedosamente segue numa crítica vigorosa à exaltação da herança de memórias traumáticas. Para os que compõem o movimento negro, para feministas, pessoas trans, LGBT, nada disso é palatável. Mas são leituras necessárias, a reflexão tem valor inestimável e ajuda a todas e todos a discernir bravatas de uma agenda de direitos que deve ser defendida sem descanso. O que é queixa e o que é protesto. Bosco peca ao não conectar sua argumentação com essa literatura e transcender o incômodo, transformando-o em provocação teórica significativa.
Bosco se pergunta: até que ponto as sociedades contemporâneas são patriarcais?
O autor mostra-se especialmente preocupado com os excessos de estratégias antigas, como o escracho. Naming and shaming, diriam os gringos. Os movimentos sociais recorreram ao escracho ao final da ditadura — na América de hoje temos o produtor de cinema Harvey Weinstein no centro de um escracho. Mas talvez esteja na introdução o momento mais flagrante do subtexto que permeia o livro, a saber, certa dificuldade em lidar com o feminismo contemporâneo travestida de “preocupação” com possíveis exageros. Nela, Bosco se pergunta: até que ponto as sociedades contemporâneas são patriarcais?
“Será que esta minha estúpida retórica terá que soar, terá que se ouvir por mais zil anos?” Um em cada três brasileiros acredita que a mulher que sofreu violência a mereceu. Os números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram mulheres com medo em todas as classes sociais. Segregando os dados por renda, escolaridade, idade, tanto faz. Sempre mais de 60% das brasileiras se dizem com medo. Bosco questiona se, para a mulher, do ponto de vista normativo, há ganhos em interpretar toda relação heterossexual como potencialmente abusiva. Para as que sobrevivem, há. Porque os números mostram que a maioria dessas relações é abusiva.
Elza cantou “Lama” naquele dia. Cantou rainha, majestosa, uma canção de despeito transcendido não em queixa, mas em protesto. É isso o que está em jogo nos casos que Bosco elenca. Ele os considera queixa; eu tenho certeza de que se trata de protestos contundentes. Ary Barroso aplaudiu boquiaberto. Façamos o mesmo. Deixemos o subalterno falar o que quiser. Não é uma chamada oral. Vamos apenas cantar afinadamente com elas e eles. Silenciar em respeito ao seu transe, num êxtase.
Matéria publicada na edição impressa #7 nov.2017 em junho de 2018.